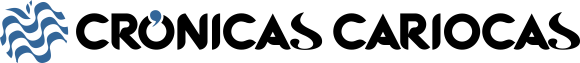Antes de sair, ouviu as recomendações da mulher: “Não beba muito, não se afaste dos amigos, não entre em bloco de mal-encarados… E sobretudo não se meta com nenhuma periguete” — arrematou ela com um sorriso entre malicioso e repreensivo.
— Tudo bem… Não vou fazer nada disso.
Lá fora, a turma o esperava para cair na folia. Etiquetou um beijo nos lábios da mulher e, saltitante, deixou a casa. Com os amigos, sentia-se mais animado. Iriam não se sabia para onde, pois no Carnaval ninguém tem rumo certo. Seguiriam os blocos, parando vez por outra para entrar nos bares. Sempre se encontravam por essa época e aproveitavam para matar as saudades. A turma era de velho conhecidos e havia muito o que lembrar.
Passou o tempo em que eles se permitiam loucuras numa ocasião como essa, mas ainda assim era bom estar juntos. Divertiam-se falando das estripulias de anos atrás: “O dia em que Pedrinho vestiu calcinha em vez de cueca e mostrou pra rodo o mundo…”; “E quando Lopes, de tão bêbado, entrou no banheiro das mulheres… Lembra?”.
Ao embalo da conversa, ele começou a esquecer o que a mulher lhe pedira. Bebia além da conta. Também, ela era meio exagerada! Mantinha-o na regra o ano todo. Que custava no Carnaval dar uma relaxada? Pediu outra caipirinha, ao mesmo tempo que recitava para os outros a sua máxima preferida: “A noite é criança”. Nunca entendeu bem a lógica dessa frase, que lhe soava como uma justificativa para os excessos. Era o “carpe diem” dos boêmios, alguma coisa como: “é preciso aproveitar a vida, e a vida está na noite”.
Vinha um bloco. Ele começou a tamborilar na mesa, depois ficou em pé e se pôs a pular. Não resistia ao apelo da música e dos corpos que se comprimiam dentro do cordão. Tanto é assim que aproveitou o pretexto de ir ao banheiro e se deixou levar pela turba. Aderia à festa com uma inexplicável ânsia de fugir, perder-se, romper as amarras.
Quando os amigos deram pela sua falta, ele já havia enlaçado uma morena de bustiê e saia curta que pareceu lhe dar bola. Pelo menos foi isso que o atordoamento do álcool o fez supor. Só percebeu que se enganara quando, ao tentar dar um abraço na garota, sentiu nas costas uma pancada aguda. Ao se virar, levou no rosto um soco que o faria cambalear se houvesse espaço para isso. Nunca soube como conseguiu se desvencilhar da massa e voltar à mesa, onde os amigos o esperavam com ar preocupado.
— Onde você estava, cara? E o que foi isso no seu rosto?
— Nada — respondeu, estranhamente sóbrio. — Um sujeito, em vez de acertar a baqueta no tambor, acertou na minha cara.
— A gente já estava pensando como ia dizer a Leonor que você sumiu.
Leonor era a sua mulher. Se ele demorasse mais, certamente teriam tido a ideia de ligar para ela. A mulher ia então querer saber por que ele não seguira suas recomendações. E o diabo é que ela estava com a razão! Passou a mão no rosto, que ainda doía, e pediu mais uma dose. Queria se embriagar de novo, e dessa vez não haveria bloco que o levasse dali.