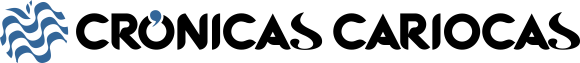Recentemente assisti a “Conclave”, um dos candidatos ao Oscar 2025. O filme trata da escolha de um novo papa por cardeais de várias partes do mundo, como é próprio desse tipo de pleito, e chama a atenção pelas disputas que existem entre eles. Nesses embates transparece a diversidade de posições dentro da Igreja (basicamente, entre os progressistas e os retrógrados), mas sobretudo ressalta-se um traço que é peculiar aos seres humanos – a busca pelo poder.
O filme me fez pensar em Antonio Carlos Villaça. Para quem não sabe, Villaça era um dos maiores conhecedores do pensamento católico no Brasil e no mundo. Conhecia a fundo a obra de pensadores como Bernanos, Léon Bloy, Tomás de Aquino, Jacques Maritain. Em seus escritos pulsa o dilema vivenciado pela intelectualidade católica brasileira ao longo do século passado, a qual se dividia entre a participação política e o recolhimento à vida espiritual. Alceu Amoroso Lima e Gustavo Corção eram os maiores representantes de cada uma dessas posições.
Villaça foi um ser fronteiriço, viveu na zona do quase – quase padre secular, quase frade dominicano, quase monge beneditino e, no fim, escritor convicto. Se jamais foi tocado pela Graça, foi no entanto bafejado pelo Estilo, que também é um dom conferido a poucos. A literatura permitiu-lhe ver sem preconceito ou sectarismo o que estava para além das ideias em confronto – os frágeis seres humanos, divididos entre a aspiração pelo transcendente e as tentações da carne.
O mais importante livro de memórias de Villaça, “O nariz do morto”, é o relato do seu desencanto com a vida monástica. Ele entrara no mosteiro cheio de ideais, estimulado por uma visão piedosa e sobretudo estética do catolicismo, e lá se deparou com uma realidade tão prosaica, e por vezes mesquinha, quanto a do mundo leigo. Arengas, intrigas, ambições vorazes faziam da instituição monástica uma reedição do que existia no espaço mundano.
Villaça revela isso com um desespero e uma pungência que angustiam, sobretudo porque transparece de suas palavras um ressentimento doloroso. Na página 131 de “O nariz do morto”, por exemplo, ele apresenta o saldo da sua frustrada incursão na vida religiosa: “Aprendera a ler, razoavelmente, nesse dicionário de absurdos que é a clausura monástica – morada do nada. Aprendi. Fiz o que no prostíbulo faz a desprevenida prostituta: aprendi o alfabeto da humana desgraça /…/ Sei com os ladrões e as prostitutas, os presos e os bêbados, qual é o itinerário do homem.”
O livro me impressionou tanto, que o escolhi para tema da minha dissertação de Mestrado – “Travessia do mosteiro; considerações sobre a autobiografia em Antonio Carlos Villaça”. O trabalho teve como orientador o professor Anazildo Vasconcelos da Silva e foi defendido no início de 1983, na UFRJ. Da banca examinadora participaram, além do orientador, os professores Gilberto Mendonça Teles e Manuel Antônio de Castro. De Gilberto, recentemente falecido, tive o prazer de ouvir a indicação de que a monografia fosse publicada – o que ocorreu ainda quando eu estava no Rio, pela “Edições Tagore”.
Várias vezes conversei sobre o “O nariz do morto” com o seu autor, em fraternais encontros no hotel de Santa Teresa onde ele residia. As conversas tinham a franqueza de amigos e esclareciam determinados aspectos da narrativa. Por exemplo: o nariz era o pênis; e o morto era ele, Villaça, que perdeu trinta quilos durante o tempo em que ficou no mosteiro. Nessa fase de crise urinava continuamente, devido à ansiedade, e tanta água perdida afinou-lhe o perfil. Depois voltaria a ser o gordo cheio de bonomia que aprendemos a amar. O gordo generoso, de riso cavo, que fez do conhecimento dos homens um meio de se tornar bom.
O aspecto de “Conclave” que mais me fez pensar no autor de “O nariz do morto” foi o da disputa pelo poder. Mais de uma vez ouvi dele como era intenso, nos ambientes que frequentou, o desejo de prevalecer sobre os outros e galgar posições de liderança. Muitos chegavam a usar para isso a humildade. Aparentando-se dotados dessa virtude essencialmente cristã, poderiam ser alvo de admiração e prestígio.
A observação de tais pessoas leva o narrador a reflexões desalentadas, como a que segue: “O líder ama o poder, quer apenas o poder. O poder para nada, para se olhar nele, como num espelho monstruoso. O poder é o nada. O líder quer o nada – e, para isso, é capaz de tudo, de vender seus filhos vender o céu, o teto de estrelas e de nuvem, a própria vida.?” (p. 251)
No filme, um exemplo extremo da ambição pelo poder é o Cardeal Tremblay; para tirar do páreo um dos concorrentes mais votados, ele não hesita em revelar um antigo caso amoroso do rival, de que resultara um filho. Com isso, vão por água abaixo as pretensões do Cardeal Adeyemi ao papado. Se assistisse à película, Villaça dirigiria a figuras como Tremblay a sua crítica e o seu ressentimento, pois de algum modo seriam responsáveis pelo ceticismo que faz o narrador hesitantemente duvidar: “Porque Deus parece… talvez… pressinto, desconfio, é esquisito, talvez, possivelmente, será que existe mesmo?” (p. 99)
Tal ceticismo parece se reproduzir na crise vocacional do Cardeal Lawrence, magnificamente interpretado por Ralph Fiennes. Sendo o mais antigo na função cardinalícia, cabe-lhe conduzir o Conclave e tentar harmonizar as pretensões e as ideologias em conflito. Tal como Lawrence, o narrador de “O nariz do morto” considera que não há certezas. E endossaria de bom grado estas palavras do decano, que resumem de forma brilhante o desafio presente na crença religiosa: “Se há certeza, não há mistério. E, se não há mistério, não pode haver fé.”