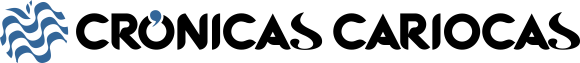Negro,
Escrevo-te estas mal traçadas pra me despedir. Não me culpe, não me leve a mal nem me mande catar coquinho. Fiz, sim, e não me arrependo, e tu sabe por quê? Pra te ajudar, homem. Não faça juízo errado da minha pessoa nem me deseje má sorte, porque isso não vai ser bonito. E depois tu me conhece, sabe que eu não sou dessas, mesmo que pareça.
Fui embora do cafofo, tu já deve ter percebido que peguei umas mudas de roupa e caí fora. Foi para o teu bem, Negro. Algum dia tu vai compreender todo o tremendo sacrifício que fiz para que tu fizesse sucesso como compositor de samba. Sabe quando tu chega num lugar e todo mundo começa a cantarolar o sambinha que tu fez? Então. Isso tu nunca teve, nunca provou dessa cereja, nunca encostou a língua nesse manjar. Eu te via na dificuldade de inventar uma música para o gosto da comunidade e ganhar algum dinheiro, eu sofria junto de ti, pode acreditar. Então resolvi ajudar te dando um motivo pra ganhar inspiração. Sou boa ou não sou?
Perdida por ti já fui, que maluca não seria? Tu foi o homem que me deu felicidade, Negro, e isso é coisa que ninguém pode negar. Mas lata d’água já deu, não quero mais. Quero o teu samba, e que tu seja realizado. Faz o teu samba, homem, motivo eu te dou: tua mulher deu o fora. Satisfeito?
Não pense que te deixei por que ficando do teu lado eu estaria condenada a uma vida de pobreza eterna, e que se eu continuasse no cafofo acabaria me acostumando a comer o reboco das paredes. Não, Negro, não é nada disso, credo! Fui embora porque queria te ver sozinho, triste e abandonado, sem nada ter de teu mais que o violão velho e lascado, porque só assim tu sofreria e conseguiria fazer um samba precioso, e na letra tu falaria sobre a malandra ingrata e cruel, traidora, que só te fez mal. Garanto pra ti que não vou me ofender por isso. Porque o samba só nasce do sofrimento, não é? Então, te faço sofrer pra florescer. Sabe a carta de alforria que o teu avozinho ganhou no passado? Agora sou eu que te dou alforria, Negro. Se quiser, pode me chamar de Isabel, a princesa. Sou a tua princesa que tá te fazendo um bem maior que o mundo, pra que tu conquiste esse mundo mesmo. E agora tu me diz: sou boa ou não sou?
Ainda, se quiser mais motivo pra incrementar a tua composição, comunico que fui embora na companhia de um cavalheiro que conheci outro dia no Largo da Carioca. Estava vendo vitrine e pensando se aquela saia vermelha ficaria muito justa no meu quadril quando ele se chegou e me disse “Senhorita tão simpática merece ganhar um sorvete duplo de baunilha com morango e um colar de pérolas.” Arrepiei, sabe como? Aí eu respondi “É mesmo? Quero ver se tu não tá mentindo, bonitão de paletó branco. Pode ser framboesa no lugar do morango? Gosto de fruta chique. Tanto calor, não? Ando morrendo pelas tabelas com tanta quentura, Jesus Cristo!” Ele beijou a minha mão e sorriu, o dente de ouro bem na frente. “Evilásio, um seu criado, para servi-la.” Eu não me fiz de rogada: “Marlene, para ser servida.” E beijou mais a minha mão. Escute bem, Negro: beijou a minha mão, igual se beija a mão de uma senhora de respeito. E como uma palavra puxa a outra e as duas lavam as mãos e a cara, no final concordamos que eu iria viver com ele e seria tratada como uma rainha. Sabe rainha? Então. Ele até prometeu me comprar um ventilador pra suportar esse verão, que disseram que esse ano o calor vem pra abrasar a gente. Um ventilador, viu só que luxo? E a francesinha também, toda semana, no pé e na mão. Tu sabe que eu sempre adorei uma francesinha.
Bota isso no teu samba. Diga que tua negra se vendeu. Não é verdade, mas pode dizer mesmo assim, não levo como ofensa. Não é uma alforria? Eu dei a tua liberdade, Negro. Fala pra todo mundo que eu fui a tua Isabel, te deixei livre pra que tu brilhasse. E agora tu me diz se eu não sou boa. Sou ou não sou boa? Anda, fala!
Sei que tu deve tá aí chorando as tuas mágoas sobre o violão, e é assim que deve ser: chora tua saudade, tua dor de corno, chora a falta que tu sente de mim. Chora na melodia, molha as cordas do teu instrumento e tira daí a canção mais linda, aquela que te fará famoso. Tu consegue, o motivo tu já tem. Depois descansa e pensa na tua Negra. É assim que tem que ser.
Adeus, Negro, não jogue a culpa em mim e pensa que tudo o que fiz foi pra que tu conhecesse um pouco de sucesso com uma canção contra mim, contra a tua Negra… Falando mal de mim, ah, que bonita vai ser tua música! E cuida de pagar o aluguel pro seu Vicentino, senão vem ordem de despejo e ele te tira do cafofo. Tem dois meses de atraso, o terceiro ele não deixa passar. Tu não quer morar embaixo do viaduto, quer? Te manda um beijo e um abraço esta companheira que é capaz de tudo pra te ajudar.
Negra Marlene (agora Lili)