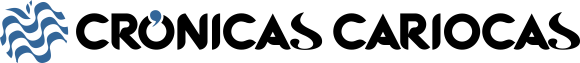.
em homenagem ao conto “Casa Tomada”, de Julio Cortázar (1914-1984), escritor argentino
Gostamos da casa porque, além de espaçosa e antiga (mesmo que hoje as casas antigas sejam pouco valorizadas), guarda as recordações de avós e bisavós, pais e toda a nossa infância. As paredes sabem de nós, quem fomos, quem somos. O eco das vozes do passado ainda nos enchem de encantamento. Houve felicidade aqui — ainda há.
Minha irmã Irene e eu nos acostumamos a viver sozinhos. Não há mais ninguém da família entre nós, só a lembrança deles. Temos nossa quieta solidão e isso nos basta. Chegamos à meia-idade com leveza e despreocupação. Em nenhum momento pensamos em sair daqui e viver em outro lugar. Isso nunca nos passou pela cabeça, já que nosso corpo e nossa alma não saberiam viver longe destas paredes. Esta casa é um celeiro de lembranças e somos dependentes delas. Também somos agradecidos pelo que elas nos proporcionam. Há recordações que, com o passar do tempo, se diluem na memória e não sabemos distinguir muito bem se foram reais ou se estiveram a ponto de sê-lo ou se foram fruto de nossa imaginação. Há outras, entretanto, que são tão nítidas que parece que aconteceram ontem mesmo. O que sabemos, Irene e eu, é que aqui é o nosso lugar e aqui ficaremos até o dia em que deixe de ter importância o que queremos ou não.
A crise econômica que hoje assola a nação também nos pegou, e isso foi inevitável. O país inteiro sofre com a má administração do dinheiro público, por que conosco seria diferente? Decidimos vender alguns móveis, ainda que nos doesse. Tínhamos que incrementar nossa renda de aposentadoria para manter esta casa tão grande. Vieram uns homens para retirar algumas peças, deixando vazios vários cômodos. Sentimos muito, mas preferimos assim. Os vasos com as plantas ornamentais também renderam um bom dinheiro, assim como alguns quadros e uma parte das louças e dos objetos de prata e cristal. Nem vou falar dos livros franceses; separar-me deles doeu muito em mim. Eles eram como um tesouro que eu guardava com o máximo cuidado. Irene chorou quando tivemos que nos desfazer do genuflexório forrado com veludo roxo. Os carregadores passavam ao nosso lado com estantes, penteadeiras, poltronas e cômodas nos ombros. Ficamos desolados vendo a mobília sair da casa e ir sabe-se lá para onde. Sentimos que perdemos um pouco o chão; ficamos sem certezas, como aquela que se tem de encontrar o litro de leite na soleira da porta a cada manhã. Mas teve que ser assim, os dias modernos nos levaram a isso. Eu tentei animar minha irmã e ela me pediu que dissesse àqueles estranhos que os móveis podiam ir, mas a casa ficaria no lugar de sempre. A casa não estava à venda.
As primeiras horas depois disso foram penosas. Ver a casa quase vazia era muito difícil, mas aos poucos deixamos para trás os dias ruins. Utilizamos as lembranças para superar a tristeza. Por exemplo, recordar o dia em que a casa passou a ser propriedade só nossa, minha e de Irene, por direito e herança. Eu dancei sozinho sobre o piso de madeira para celebrar o acontecimento e Irene, mais familiarizada com cálculos e contas, assinou o contrato, encerrando o caso. A casa era definitivamente nossa. Foi um dia memorável. Gostei de ver minha irmã enfim sorrindo, ainda que fosse um sorriso triste. Logo depois do jantar ela retomou o tricô e comentou que precisaria de mais lã azul para terminar o cachecol que fazia para mim. Eu disse que na manhã seguinte iria até o centro da cidade e compraria. Ela agradeceu com a delicadeza de sempre e voltou os olhos para o trabalho. Eu continuei mergulhado nos livros. Dormimos muito bem aquela noite.
Quando Irene sonhava em voz alta, e chorava, eu acordava de imediato. Corria até seu quarto e a sacudia com delicadeza. Ela me perguntava, ainda dormindo, que carro era aquele que tinha passado perto da janela do quarto. Era uma voz estranha, que vinha do mais profundo de sua inconsciência e não de sua garganta. Eu respondia que não sabia, era apenas um carro, um automóvel qualquer que alguém dirigia na rua de nossa casa. Ela retrucava implorando que eu dissesse ao motorista que a casa não estava à venda. Eu a abraçava com força para acalmá-la.
Os casais jovens e as famílias mais ou menos numerosas que vinham ver a casa se admiravam com a beleza e a sobriedade da construção. Passeavam pelos cômodos olhando as paredes, o teto, as portas, os rodapés. Iam do saguão com piso de mármore até a sala de jantar forrada com gobelinos, passando pela biblioteca e pelos amplos dormitórios, que ficavam na parte mais afastada da casa, aquela que dá para a rua Rodríguez Peña — perguntavam coisas, suspiravam em alta voz, faziam comentários de admiração. Irene, a todo instante, me pedia que lhes dissesse que a casa não estava à venda, nunca estaria. Eu respondia que estava tudo bem, que podíamos nos cobrir com lençóis brancos e fingir que éramos fantasmas e mandá-los para longe daqui. Ela ria, mas seu riso continuava triste.
Pensamos em sair à rua, trancar a porta e jogar a chave num buraco de esgoto qualquer, para que estranhos não invadissem a casa, mas não conseguíamos nos afastar de lá. E então gritávamos às pessoas que fossem embora, que deixassem de tagarelar, que não tomassem nossa casa, que ela não estava à venda. Ninguém nos ouvia. Continuavam passeando pelos cômodos, comentando sobre os poucos quadros pendurados, a cor das paredes e a altura do pé direito. “Uma casa magnífica”, diziam. Irene chorava e eu tentava mantê-la calma dizendo “Esta casa, a nossa casa, nunca será tomada.”