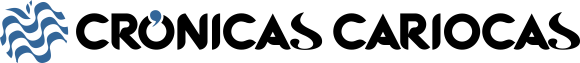“Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante” (Roberto e Erasmo Carlos)
Os saudosos anos 60, além de propiciar nova consciência, clamor pacifista e efervescência artística, colocaram nos moços longas cabeleiras. Encaracoladas, cacheadas, naturais, lisas, afro, black power, rebeldes, mas invariavelmente compridas.
Depositários inconformados de valores de uma sociedade decrépita que exaltava a grana e a guerra, os jovens ansiavam por uma nova ordem onde floresceria o amor e a solidariedade universal.
Os profetas da Nova Era atribuíam o movimento à irrupção da Era de Aquário. “Quando a lua está na sétima casa e Júpiter alinha-se com Marte”, dizia a canção-símbolo do musical “HAIR” (cabelo).
As mesmas cabeças que, turbinadas por alucinógenos, hospedavam interiormente loucos devaneios de libertação, faziam brotar exteriormente caracóis psicodélicos e fios emaranhados rebeldes.
Cabelos longos significavam também transgressão à virilidade e à classificação dos gêneros segundo a tradição moralista cristã que dividia o ser humano em 2 categorias absolutas: o homem e a mulher, definidas respectivamente pelas cores azul e rosa.
As mulheres que tinham nos abundantes cabelos a marca registrada da feminilidade como protótipo de beleza, agora enfrentavam a concorrência masculina, numa época em que os limites que separavam as duas tipologias biológicas tornaram-se mais fluidos.
Os militares machões que promoviam a guerra e a repressão sempre tiveram aversão por cabelos compridos, enfileirando-os em pelotões capilares uniformes através de cortes tipo reco.
O sistema opressor para impor os valores burgueses exigia do indivíduo apresentação visual condizente. As vestes e o penteado deveriam retratar disciplina e ordem. Cabelos e roupas desalinhados eram sinal de desleixo, desrespeito, rebeldia.
A marcha inexorável do tempo sepultou os anos 60 e com eles a quimera por um mundo melhor. “O sonho acabou”, proclamou o cabeludo John Lennon.
Com o passar dos anos, os cabelos tornaram-se grisalhos, cresceram tanto que ficaram frágeis, começaram a cair como folhas no outono.
Cabelos compridos saíram de moda. Também saiu de moda o empenho em acabar com as guerras e salvar o planeta.
Adveio uma nova leva de jovens individualistas com aspirações de ascensão social e fortuna material. Essa espécie em expansão era representada por um figurino asseado, bem trajado, de cabelos aparados.
A nova safra de jovens das gerações X, Y e Z, ao invés de colares, fitas, pulseiras artesanais com a insígnia de paz e amor, portava roupas e acessórios de grife. Os hippies de outrora tornaram-se capitalistas de terno e gravata e investidores do mercado de ações e em criptomoedas.
Alguns mais extremados ostentavam, orgulhosos, símbolos neonazistas, muitos deles… carecas. O radicalismo execrava radicalmente a presença de fios subversivos.
Carregavam metralhadora numa mão e Bíblia noutra. Respaldam seu ódio nas palavras do mesmo Cristo que, triste ironia, pregava amor e usava vestes simples, sandálias, barba e… cabelos compridos.
Talvez eu seja apenas um saudosista que me apegue a um passado cabeludo que não volta mais.
Mas no alto das minhas décadas de vida, reluto em ir ao barbeiro cortar periodicamente os cabelos. A eles me apego, como uma ingênua esperança de voltar a sonhar por um mundo melhor.