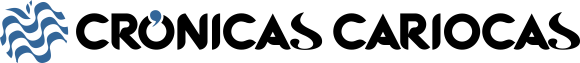Ela estranhou quando o carro parou em frente à sua casa tão cedo. Não costumava receber clientes naquela hora do dia. O homem que desceu do veículo tinha o semblante assustado e, ao vê-la no alpendre, lhe fez um aceno. Ela foi até o portão; antes de abrir, notou as olheiras de quem parecia não ter dormido.
– Entre, moço – falou, sem perguntar de que se tratava. Não era preciso. A fama que acumulara fazia com que a procurassem sobretudo por uma razão: desfazer algum temor ligado ao futuro.
Ela o fez atravessar o pequeno alpendre rumo a uma saleta onde havia uma mesa forrada com um pano verde sobre o qual estava um baralho já gasto. Sentou-se e fitou o rapaz com um ar doce e compreensivo. Aprendera, com o tempo, que essa expressão acalmava os que a vinham procurar.
– O que o atormenta, meu jovem?
Ele baixou a vista e, com algum esforço, falou as primeiras palavras:
– Daqui a pouco vou encontrar alguém. Quero saber se corro algum risco.
Disse e ficou mudo. Ela esperou que continuasse. Depois ponderou que, se lhe desse uma ideia de que adivinhava o motivo da sua inquietação, despertaria nele mais confiança.
– O que é que no comportamento dele lhe provocou tanto medo?
“Dele”. Então ela sabia que se tratava de um homem! E, de fato, era o marido da colega de trabalho com quem vinha saindo há alguns meses.
– Como sabe que é “ele” e não “ela”?
– “Ela” ocupa sua mente, mas de outro modo – respondeu com um olhar malicioso, dando à expressão um ar conivente que o confortou.
A senhora é perspicaz – ele disse, com um suspiro que fez os olhos dela brilharem ainda mais.
Explicou-lhe então que vinha se encontrando com uma mulher casada. Os encontros ocorriam com a máxima discrição, claro. Chegara a ponderar que o que fazia não estava certo, mas se sentia incapaz de resistir. Desejava-a, tinha paixão por ela, e sabia que era correspondido.
Fez uma pausa, levemente emocionado com o que acabara de dizer. Em seguida explicou que mal conhecia o marido, por isso estranhou o telefonema pedindo-lhe um encontro para falar “da situação profissional da esposa”. Ficou com a mosca na orelha. E se ele soubesse de tudo e pretendesse lhe fazer algum mal?
Depois de ouvi-lo, a mulher pegou o baralho e começou a misturar as cartas.
– Vamos ver o que elas dizem. As cartas não mentem jamais.
Esse lugar-comum lhe soou como uma verdade profunda. As cartas pareceram infalíveis e certamente o orientariam sobre o que deveria fazer. A mulher pediu que tirasse uma delas, depois outra, juntou as duas e olhou por cerca de meio minuto a combinação. Depois levantou a vista e o fitou com um sorriso entre cúmplice e triunfante.
– Tranquilize-se, meu filho. Ele não sabe de nada.
– Tem certeza de que ignora o que há entre nós?
– Absoluta. Siga em paz e viva com intensidade essa paixão, pois a vida é curta.
Sorriu, aliviado, e lhe perguntou quanto devia.
– Dê o que o seu coração mandar.
Abriu a carteira e lhe passou uma quantia generosa. O alívio que as palavras dela lhe trouxeram não tinha preço. Ao se despedir, apertou a mão da mulher e agradeceu com uma humildade que a surpreendeu. Ela é que devia se mostrar humilde diante daquele homem elegante e de uma classe social bem superior à sua. Mas o que dá a cada um a medida da sua importância é a situação que está vivendo, e ele se sentia frágil em razão da dúvida que o afligia.
Depois que saiu, ela contou as notas. Era um montante considerável, que lhe permitiria consertar o ar-condicionado e comprar uns objetos com que vinha sonhando.
Depois do jantar, sentou-se diante da TV para assistir ao noticiário local. Ficou curiosa ao se deparar com a primeira manchete: um marido que se soubera enganado matou com três tiros o amante da esposa. Em seguida vinham detalhes do crime e a foto da vítima. Tomou um susto ao ver que era o homem que tinha vindo consultá-la pela manhã. A mesma roupa, o mesmo cabelo, e nos olhos vidrados um ar de perplexidade.
Por um instante sentiu remorso, mas logo tratou de banir do espírito esse sentimento. Qual fora a sua culpa? Não tinha concorrido para o crime. Deixara o rapaz confortado como podia ter feito o oposto. Se confirmasse as suspeitas dele e estivesse errada, poderia pôr fim à vivência de uma grande paixão.
Pensando bem, foi melhor que ele ignorasse o que estava por acontecer e marchasse tranquilo para o fatídico encontro. A sentença já fora providenciada pelo destino, e quem era ela para interferir nos seus desígnios? O que fez, no final das contas, foi dar um pouco de ilusão a quem já se condenara pelos seus próprios atos.
Com esse pensamento recontou o que o morto tinha lhe dado, antecipando os pequenos luxos que iria comprar.