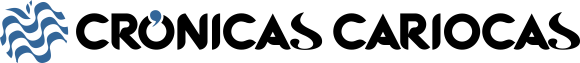– Pai, urge que o senhor aumente a minha mesada.
– “Urge”?! O que é isso?
– A professora de redação ensinou que a gente deve dizer “urge”. Tem mais força do que “é preciso”, “é necessário”. Parece, tipo assim, o rugido de uma fera. URRRGEEE!
– Calma, tudo bem. Não precisa me morder. E pra que é que você quer mais dinheiro?
– Vou fazer o Enem, não vou? Preciso ler, me informar. Destarte…
– “Destarte”?
– Sim. Destarte, dessarte… A professora falou que é melhor do que “então”, “logo”, “diante disso”. Ela quer que a gente arrase na prova. E quer, outrossim, um pouco de fama para ela também, claro.
– “Outrossim”?
– O senhor não conhecia?
– Não. Conhecia “outro não”. Era o que eu ouvia de sua mãe toda vez que lhe pedia um beijo. Ela dizia: “Outro não, Valfredo. Por hoje basta.”.
– Ah, pai, o senhor é mesmo ignorante. Não é “outro sim”; é “outrossim”, entendeu?
– Não estou vendo diferença, mas entendi. O contrário, então, deve ser “o mesmo sim”. E não outro!
– Caramba! Achei massa essa história do beijo. Então ela lhe dava um fora… Que sádica! E o senhor, entrementes, o que fazia?
– “Entrementes”? Deixe eu ver… Primeiro preciso saber o que é “entrementes”. É alguma coisa como “escorraçado”?
– Nada a ver. Significa “nesse espaço de tempo”.
– E por que você não falou isso?
– Porque a professora disse que “entrementes” impressiona mais.
– Nesse caso, pode entrementar à vontade. O importante é que você arrase na redação.
– Esse é meu desiderato.
– Como?
– “Desiderato”, “vontade”, pô! Também o senhor não saca nada da língua portuguesa!
– Desculpe, ando meio desatualizado. Embora, aqui pra nós, esses termos que você está usando sejam um tanto serôdios.
– “Ser” o quê?
– Serôdios! Sua professora não mandou você usar essa palavra no lugar de “antigos”? Se ela ainda não fez isso, vai fazer. Com certeza.
– Epa! Nada de “com certeza”! É “indubitavelmente”. E sabe de uma coisa? É mister que eu não converse mais com o senhor.
– “Mister”?!
– Isso mesmo. E não fale mais da minha professora, viu? Não quero ouvir. Se fizer isso, que seja à sorrelfa.
– “Sorrelfa”!? Essa também veio da professora?
– Negativo. É contribuição minha mesmo. Pesquei no dicionário para fazer uma surpresa a ela.
– “Sorrelfa…” Socorro, Alaíde! Vem cá ouvir teu filho. Alguma coisa muito séria está acontecendo com ele!