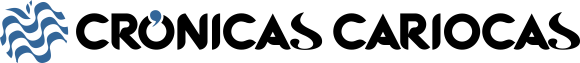Quando eu era criança, deixava-me levar pela fantasia de ser um super herói que tudo podia. Mas, ao contrário do Batman, não agia apenas no combate aos folclóricos criminosos de Gotham City. Minha área de atuação era mais abrangente. Ocupava o cargo de presidente, ou talvez imperador, do Brasil. Não, do mundo! Pois as fronteiras nacionais não seriam suficientes para barrar meu desejo infinito de servir a cada um dos habitantes, até os das regiões mais remotas e inóspitas do planeta. E não havia nada nem ninguém que pudesse limitar meu poder absoluto nem minha disposição de cumprir esse desígnio.
Mas, isso não me fazia um ditador autocrático. Governava em sintonia com o que pensava a maioria das pessoas ou, pelo menos, aquelas ‘de bem’, as que, como eu, ansiavam por um mundo melhor para se viver.
Um compromisso firmado entre mim, minha imaginação e o resto da humanidade estabelecera que jamais faria uso de minha condição de liderança para punir quem discordasse de minhas iniciativas nem cogitaria em calar meus criticos, sobretudo os bem intencionados, merecedores de todo o respeito.
Capitanearia eu uma legião de subordinados (ou melhor, colaboradores) que cuidariam de manter a paz e a harmonia social, sem precisar ferir ninguém, nem usar armas letais. Sua função seria apenas a de colocar em prática determinações cujo propósito era tornar todos mais felizes.
Eu firmara um contrato juramentado em que constava uma declaração de que eu jamais valeria de minha posição de liderança para me locupletar ou obter benesses, já que não seria movido por ambições pessoais. Meu objetivo era apenas o de consertar o que estava errado para bem da coletividade.
A compensação que me bastava para esse árduo trabalho voluntário era a de ser amado pelo povo por tornar nosso mundinho comum um lugar mais agradável de se habitar, para mim e todos os demais seres humanos, a quem, indistintamente considerava entes queridos. Não esquecendo dos demais seres viventes, animais e plantas.
No meu mundo, o sofrimento, ao menos aquele causado por outros seres humanos, seria banido da face da Terra e todos levariam uma vida digna sem privações.
Os super ricos, movidos por inaceitáveis impulsos de ambição, seriam contidos em seu furor cumulativo por regras que impedissem abusos, para que os demais tivessem direito a seu quinhão.
Os policiais deveriam ser corretos e prestativos, sem deixar de combater o crime com rigor. Os homens maus iriam para a cadeia e cumpririam a sentença integralmente. Os reincidentes teriam severas sanções. Nada de condescendência com os mal intencionados.
Os delegados e juízes corruptos ou que saíssem da linha, seriam sumariamente afastados, sem quaisquer honorários. Tais cargos seriam ocupados por homens e mulheres íntegros com salários dignos mas modestos, sem penduricalhos. A justiça seria rápida e eficaz, regida por um enxuto conjunto de leis que todos entendessem.
Cessariam também os benefícios concedidos a políticos, cujos vencimentos seriam compatíveis com os da população em geral, sem mordomias e auxílios indiretos. Quem escolhesse a vida pública, o faria por vocação sem possibilidade de usufruir materialmente de sua posição.
A melhor remuneração seria a do professor, a função mais nobre da comunidade, a de formar através da educação de qualidade, cidadãos éticos, responsáveis social e ambientalmente.
No plano internacional, um simples decreto mundial poria fim em todas guerras e conflitos. As divergências seriam resolvidas civilizadamente, em torno de uma mesa de negociação. As demandas e divergências seriam apreciadas por equipes competentes e imparciais com poder decisório.
A miséria e a fome, como num passe de mágica, seriam extintas. Alcançar isso é muito mais fácil do que parece. Bastaria redirecionar os recursos orçamentários antes desperdiçados em inúteis armamentos, destinando-os a melhorar a saúde, a educação e promover a melhoria na qualidade de vida.
Enfim, tudo o que o senso comum reconhece como desejável, seria implementado com a força de minha varinha de condão aliás, minha caneta justiceira.
Essa carta de intenções, submetida às pessoas de todas as nacionalidades, raças e religiões, certamente seria aprovada com louvor pois atenderia ao clamor universal.
No fundo, o que eu propunha era o que todo mundo queria. “É tudo tão simples. Por que os adultos complicam tanto?” pensava eu. Se me colocassem lá em cima e me dessem condições, eu me comprometeria a realizar tudo isso… e muito mais.
Na minha inocente onipotência, não compreendia por que ações tão óbvias, aparentemente consensuais, enfrentam tanta resistência.
À medida que fui galgando na idade e no conhecimento de como as coisas funcionam, tomei um choque de realidade, passei a devanear cada vez menos e tomei consciência de minha insignificância ante a tarefa hercúlea a que me propusera e da incapacidade de mudar mesmo as coisas mais banais e próximas.
Hoje, quando vejo tantas inexplicáveis brutalidades sendo cometidas ao meu redor, invoco com saudade o super herói aposentado que, empoderado pelos sonhos de uma criança, acreditou que podia transformar um mundo dominado por um bando de adultos sem graça.