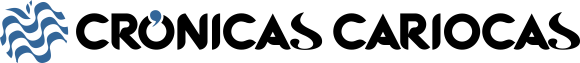Se naqueles dias de aguaceiro eu tivesse uma corda, e se eu não fosse pouco mais do que uma criança crescida, e se eu pudesse e tivesse coragem, amarraria minha mãe na cama e lhe daria uma surra para ver se ela parava de chorar e de gritar de dor. Quando chovia, os ossos de minha mãe latejavam e ela ficava louca. E me enlouquecia também. Mas eu não tinha uma corda.
***
E agora, quantos dias me aguentando? Demasiados. Já são onze dias que chove sem parar, onze dias de confinamento. Devo ser muito resistente, só pode ser isso. Mas sinto que estou próxima do meu limite. E aqui nesta casa não há ninguém que me ajude. Estou sozinha. O que necessito é deixar de sentir dor. E que pare de chover. Olho o chão do corredor à minha frente, penso num poema para me distrair:
tábua
irmã gêmea de outra tábua
assoalha
todas as tábuas dão-se as mãos de madeira
e assoalham
uma casa inteira
Onze dias! É a primeira vez que aguento tanto tempo sem chorar. Talvez pudesse aguentar um dia mais: doze. Será? Acho que não. Tudo me pesa e dói: a infância — a lembrança da infância, quero dizer, porque já não sou mais criança —, minha mãe, que enlouquecia de dor em dias assim molhados, meu pai, isolado em sua cabana perto da lavoura em que trabalhava e sempre alheio ao que se passava na casa, minha irmã mais velha — e muito mais esperta, porque soube dar o fora no momento certo —, e esses onze dias com suas onze noites de água.
É difícil acreditar que uma cidade e seus habitantes possam suportar algo assim: onze dias de chuva ininterrupta, obrigando as pessoas a se encerrarem em casa, quando o que elas mais necessitam é sair para trabalhar, para estudar, para fazer negócios, para tocar a vida. Mas a chuva tem linguagem própria e escreve sua história como bem entende.
Vejo pela janela embaçada alguma gente corajosa e seus guarda-chuvas no meio das poças, amaldiçoando o céu por despejar tanta água. Vejo uns poucos moleques pulando os charcos, vejo três ou quatro automóveis passando pela rua e espirrando água para todos os lados. Vejo a rua transformada em rio, cortando a cidade com sua correnteza e arrastando consigo lixo, coisas soltas, animais mortos, a paciência e a capacidade das pessoas de aguentarem esse aguaceiro bíblico.
Já suportei muita chuva, mas nunca uma igual a essa. Onze dias! De verdade, não posso mais! Além disso, meu cabelo eriça com a umidade, pareço um leão alucinado querendo meter os dentes na primeira presa que passe pela frente. Não há nada capaz de domá-lo, alisá-lo para eu parecer ao menos uma pessoa normal, com quem se possa manter uma conversa comum sobre qualquer assunto. Não há normalidade possível quando chove dessa maneira.
***
Minha mãe se desesperava com a dor nos ossos por causa da chuva. Uma dor que brotava de dentro dela mesma e a enraivecia e quase a cegava. Ninguém em casa sabia o nome dessa enfermidade. Para saber, era necessário dinheiro, coisa que não tínhamos. Dinheiro para ir a um bom médico e ouvir dele do que padecia minha mãe quando chegava a temporada das águas. Sabíamos que era uma coisa muito ruim. Se soubéssemos o nome da enfermidade, iríamos providenciar um remédio, um calmante para acabar com seu sofrimento. Mas não sabíamos o nome.
Doía. Mas não doía só nela, doía em mim também. Não doía em minha irmã mais velha no tempo em que ela morava conosco. Não sei dizer se agora dói, já que nos abandonou e sabe-se lá por onde anda. Com o meu pai posso garantir: ele não sente nada, nem poderia, sempre carrancudo e preocupado só com suas coisas. Quanto a mim, digo: doía muito, doíam os ossos, o coração e o corpo inteiro junto com minha alma. Acho até que a chuva doía mais em mim do que em minha mãe. Ainda dói.
***
Quando minha irmã chegou à maioridade, pediu à mãe e ao pai que a deixassem estudar na capital. Queria ser professora. Dizia que, quando tivesse o diploma, voltaria para ensinar as crianças da cidade. A professora Cris. Porque minha irmã se chama Cristiana, mas ela gosta que a chamem Cris. Se ela tivesse ficado em casa e não tivesse usado todo o dinheiro da poupança para se tornar professora, estaríamos agora juntas e nossa mãe teria chance de ao menos conhecer o nome de sua doença. Mas não foi assim. Cris partiu e disse que voltaria já formada e pronta para trabalhar. No começo mandou cartas, tenho todas até hoje e de vez em quando leio. Depois parou, não enviou mais nada, nem um presente. Não soubemos mais dela. Às vezes acho que morreu, mas só penso nisso quando quero desculpar minha irmã por ter nos abandonado.
Cristiana recebeu o mesmo nome do pai. Um nome como herança de família.
***
Meu pai se chama Cristiano, mas ele não gosta que o chamem Cris. Ele argumenta: Cris é minha filha, não eu. Trabalhou a vida inteira na lavoura e passava pouco tempo em casa. Não o vi envelhecer, e ele não me viu crescer. Tinha uma cabana perto da plantação de trigo e de milho e sempre ficava lá quando anoitecia, depois de podar a plantação e rastelar as folhas secas. Voltava só no dia seguinte. Gostava de estar perto de suas coisas. Era assim que a vizinhança se referia ao trabalho do meu pai: Cristiano, como vão as suas coisas?
As coisas de meu pai eram sua lavoura e sua cabana no meio do mato. Não eram minha mãe e eu nem as nossas dores nos ossos.
Meu pai gostava muito da Cris, mais do que de mim. Gostava dela antes de ela nascer, por isso a batizou com seu próprio nome, um nome digno, segundo ele. Era a herança de família que a filha mais velha carregaria enquanto vivesse. A mim ele batizou Maria. Não havia outra Maria na família. Meu nome não era homenagem a ninguém. Quando Cris foi para a capital e deixou de mandar cartas, meu pai quis ir até lá e trazê-la de volta, mas não foi. Ele não sabia como ir. Tentou pegar o trem, mas ficou com medo de se perder e desistiu. Foi para a cabana do mato. Permaneceu lá vários dias, não sei quantos, talvez onze, lidando com sua solidão. Como eu agora, há onze dias encerrada em casa, vendo a chuva cair e sentindo a dor que ela causa em meus ossos. Meu pai não trouxe a Cris de volta porque não sabia como. Ele nunca soube de nada, só sabia das suas coisas. É que ele é homem.
***
Bem diferentes eram os dias em que não havia chuva, nem gritos, nem dor. O pai ficava mais tempo em casa, a mãe fazia comida e me chamava para ajudar. Pedia para cortar as batatas, depois lavar e secar a louça, varrer o chão, deixar tudo limpo. Não tínhamos empregada. Eu era a empregada.
Saíamos para passear, cumprimentávamos os vizinhos, líamos as cartas da Cris e dormíamos com a janela aberta. Não me incomodava ser a rejeitada de sempre nem ser só a Maria, a que veio ao mundo sem ter sido querida.
***
Minha mãe sentia nos ossos a aproximação da chuva. Assim que as nuvens escureciam, seus cotovelos e joelhos inchavam e começavam a latejar. Primeiro vinham as reclamações dissimuladas, um “ai, que dor!” baixinho a que eu e meu pai já estávamos acostumados. Bastava o céu despejar a água, ela abraçava a loucura. Esfregava unguento pegajoso nos ossos das mãos, das pernas, dos ombros, do quadril, dos pés, falava que tudo doía, que iria morrer de dor. Ela parecia mesmo morrer. Um dia ela morreu. Eu já estava crescida. Cris não estava mais conosco havia muito tempo e meu pai, já nos primeiros pingos, partira para o mato. Ele, ao contrário de minha mãe, gostava da chuva, dizia que ela fazia bem às suas coisas. A água é uma bênção, faz crescerem as minhas coisas, ele costumava falar assim. Também crescia a dor nos ossos de minha mãe, mas ele nunca deu muita importância a isso.
Nesses dias de aguaceiro em que minha mãe e eu ficávamos confinadas em casa, ela virava bicho. Chorava, gritava, amaldiçoava as paredes, me espancava. Enchia a casa toda com sua dor e, como alucinada, me agarrava pelos cabelos e me sacudia. Não havia nada nem remédio algum que a livrasse dessa tortura. Eu recebia as bofetadas em silêncio, ela gritava por nós duas. Se eu tivesse uma corda, e se tivesse coragem, amarraria minha mãe na cama e lhe daria uma surra para que parasse de chorar e de gritar de dor. Mas eu não tinha uma corda.
Quando a chuva cessava, a calma voltava milagrosamente à nossa casa. Como se fosse estrangeira chegando a uma terra desconhecida e agradável, minha mãe se lavava e vestia roupa limpa. Fazia chá e comíamos juntas o bolo feito dias antes de começar o aguaceiro. Esperávamos em silêncio pela volta do meu pai.
***
Ela morreu há dois invernos, quando choveu onze dias sem parar. Estávamos novamente presas e sozinhas dentro de casa, duas mulheres em convívio forçado, uma delas fora de si de tanta dor, vendo a água cair sem trégua. A casa ficou pequena para nós e para todo aquele sofrimento. Os ossos de minha mãe trincaram feito cristal. Seu esqueleto desmoronou. Ela se foi, mas não levou sua dor consigo: deixou-a para mim como herança de família. Porque meus ossos também doem quando chove.
***
Estou há onze dias aguentando a dor sem chorar. Talvez pudesse suportar um dia mais: doze. Será? Acho que não. Confinada em casa e em completa solidão, esqueço as tábuas do corredor e olho pela janela embaçada. Vejo alguns guarda-chuvas, vejo os moleques, vejo o rio correndo pela minha rua. Escrevo com o dedo no vidro gelado:
a casa
a rua
os olhos
o abraço
é tarde
mas ainda dá tempo
Limpo o embaçado do vidro com a manga da blusa e apago os versos. Só necessito que deixe de chover e de doer.