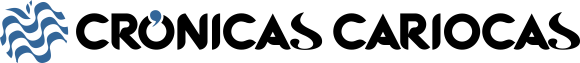Elas não constam de glossários de expressões chulas. Não podem ser categorizadas morfologicamente. Têm em comum apenas a repulsão que provocam, por mais subjetiva e arbitrária que seja essa agregação.
São repugnantes por natureza. Trazem o signo do horror em suas entranhas. Assim que ouvidas ou lidas, antes mesmo que nosso racional processe a interpretação de seu presumível significado, batem direto no emocional provocando imediata rejeição. Mantém linha direta com o lado obscuro do cérebro, fazendo emergir conteúdos e imagens que preferíamos deixar quietos nos porões do esquecimento.
Mas afinal de onde provém essa condição? Poder-se-ia argumentar tratar-se de um fator cultural. Eu diria que mais provavelmente seria um fator gutural.
Mas uma dúvida persiste. Foi seu subjacente conceito que contaminou sua forma? Ou sua fealdade orgânica tem um liame subliminar com sua presuntiva acepção?
O fato é que, ainda que sem revelar para que vieram ou de onde surgiram, sua mera pronúncia provoca um indisfarçável desconforto, um mal estar no estômago, eventualmente até mesmo um arrepio.
São podres palavras, palavrões no sentido mais extensivo do termo.
***
Esgoto, escroto, escopo, estupro, zigoto, peçonhento, bucéfalo, jurássico, chumbrega, mequetrefe, rebuceteio, ricochete, ambivalente, volúpia, interregno, escroque, imberbe, pundonor, hecatombe, hediondo, aborto, absorto, nu, cru, suruba, bacanal, cafuné, outrossim, ulterior, visigodo, macumba, ufano, carcaça, jaez, treta, opróbrio, taciturno, pusilânime, macambúzio, birrento, banzo, sorumbático, gárgula, lamuriento, bricolagem, belzebu, quiproquó, barafunda, muvuca, grotão, aziago, ungüento, tara, pamonha, busílis, úvula, galhofa, cabotino, probo, apedeuta, truculência, brucutu, vuvuzela, quasímodo, chinfrim, putativo.
Estapafúrdio, esdrúxulo, bombástico, estrambótico.
Bagulho, bugiganga, espelunca, geringonça.
Sovaco, chulé, arroto, flatulência.
Fétido, fedorento, pútrido, putrefato.
Mocréia, bruaca, muxiba, baranga.
Cafuzo, mameluco, chibarro, curiboca.
Nauseabundo, moribundo, furibundo, meditabundo.
Úmido, túmido, túrgido, tumefacto.
Chorume, estrume, azedume, negrume.
Bruto, xucro, ogro, bronco.
Sacana, safardana, sacripanta, salafrário.
Velhaco, gatuno, gaiato, larápio.
Biltre, pulha, crápula, calhorda.
Roxo, lixo, coxo, mixo.
Nojo, bojo, jugo, mijo.
Vômito, pus, cuspe, gosma, muco, pigarro, escarro, urina, caca, baba, estrume, cerúmen, seborréia, fleugma, remela, espirro, esporra, esperma, excremento, meleca.
Frieira, íngua, ferida, prurido, comichão, cólica, brotoeja, bulimia, disfagia, câimbra, torcicolo, sudorese, hemorróida, icterícia, náuseas, herpes, lúpus, sarna, urticária, enjoo, vertigem.
Úlcera, lepra, peste, gangrena, cirrose, esclerose, brucelose, trombose, toxoplasmose, esquistossomose, esquizofrenia, hipofibrinogenemia.
Aids, ebola, chicungunha, zicavírus.
Mufumba, chaboque, sapiranga, mondrongo.
Sarcoma, linfoma, mioma, carcinoma, neoplasma, abscesso, furúnculo intumescência, cisto, quisto, cancro, câncer, metástase, pústula, fistula, hiperplasia, fibrose, necrose.
Intestino, esôfago, estômago, pulmão, pâncreas, abdômen, tórax, cóccix, sacro, peritônio, amígdala, panturrilha, queixo, vômer, fêmur, úmero.
Útero, prepúcio, testículo, vagina, ânus, pélvis, pênis, púbis, vulva, uretra, pentelho.
Medonho, soturno, nefasto, funesto, fúnebre, lúgubre, mórbido, tétrico.
Túmulo, caixão, cova, sepultura, esqueleto, carcaça, cadáver.
Cemitério, necrotério, crematório, sepulcrário.
Sanatório, hospital, hospício, manicômio.
Podólogo, otorrino, obstetra, geriatra.
Cauterização, curetagem, traqueotomia, lobotomia.
Tumor, dor, torpor, terror, temor, horror, pavor, tremor.
Buchada, rabada, galinhada, vaca-atolada, barreado, guisado, linguado, angu, caruru, sururu, aratu, tutu, umbu, pururuca, bobó, quibebe, xinxim, jerimum.
Espinafre, alfafa, chicória, repolho, nabo, quiabo, inhame, jiló, jaca, cajá, caju, caqui, kiwi.
Churrasco, chuleta, maminha, coxão.
Carne-vermelha, febre-amarela, catarro-verde, baleia-azul.
Glutamato, glifosato, transgênico, Monsanto.
Glúten, nugget, nutella, miojo.
Rinha, rodeio, vaquejada, muay-thay.
Roto, rito, reto, rato.
Porco, bode, bezerro, burro, cachorro, ornitorrinco, fuinha, texugo, cachalote, esturjão, barracuda, arenque, paca, pacu, baiacu, pirarucu, urubu, peru, jacu, anu, corvo, gralha, rola, pinto, carrapato, cupim, lacraia, lesma, lombriga, percevejo, escaravelho, marimbondo, gafanhoto.
Colchetes, parêntesis, travessão, gerúndio, cacofonia, anacoluto, onomatopéia, antonomásia, catacrese, anfibologia.
Vara, alvará, estelionato, carceragem, ouvidoria, glosar, ab-rogar, impugnar, prevaricar, tergiversar, locupletar, tutela, concordata, hipoteca, precatório, caução, esbulho, estagflação.
AI5, HIV, PCC, STF.
SUS, SAMU, PIS-PASEP, BOVESPA.
Bolchevique, Gulag, Glasnost, Perestroika.
Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirquistão, Turcomenistão, Tadjiquistão, Baluchistão, Curdistão, Chechênia, Andorra, Bósnia, Bulgária, Kosovo, Luxemburgo, Liechtenstein, Budapeste, Praga, Tirana.
Fatah-Al-Islam, Taliban, Boko Haram, Ku Klux Klan.
Hezbollah, FARC, ETA, Baader Meinhof.
Putin, Pinochet, Pol Pot, Papa Doc.
Tzar, Salazar, Bashar, Muammar.
Nero, Calígula, Torquemada, Maquiavel.
Mengele, Ulstra, Bolsonaro, Garrastazu.
Ditadura, tortura, clausura, viatura.
Cárcere, cadafalso, calabouço, cala-boca.
Mordaça, porrada, porrete, cacete.
Zebedeu, Zaqueu Zulmira, Zoroastro.
Odebrecht, Richtofen , Nardoni, Abdelmassih.
Brutus, Luthor, Vader, Voldmort.
Hannibal, Godzilla, Poltergeist, Pulp Fiction.
Akira, Naruto, Pokemon, Pikachu.
Rutger Hauer, Heth Ledger, Renée Zelweger, Van Diesel.
Snoop Dogg, Tupac Shakur, Dr Dre, Shaggy.
Safadão, Marrone, Teló, Ludmilla.
Popozuda, Catra, Tchan, Créu.
Fuck, funk, punk, crack.
Google, Netflix, Huawei, Bitcoin.
Uber, Trivago, Hopihari, Agro é pop.