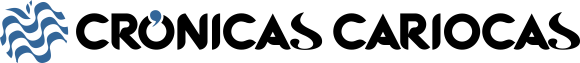O leito do hospital era alto de muitos metros. Eu olhava o mundo de cima, com galhardia. Eu olhava o mundo como quem não olha. Eu não olhava o mundo: a vida passava. Era noite alta. O leito alto era um leito de muitos ruídos: motos, carros, ônibus, tratores, uma bomba atômica, meu Deus! Todos os barulhos do mundo chegavam ao meu leito. Era escuro. Eu estava alto, ouvindo todos os barulhos do mundo, e alheio.
Doía. Em algum lugar do mundo doía. Doía em mim. Em algum lugar de mim. No pulso cortado, no lado direito do corpo, no esquerdo? Em algum lugar de mim, doía. Carros passavam. Na rua, no mundo, nos corredores do hospital. O enfermeiro estava ausente, presente, outra vez ausente. O enfermeiro era um zumbi esvoaçante pelas portas e janelas do quarto.
E a dor? O que é a dor? O corpo tenso. O corpo ferve. Não há nada e há uma tensão no ar, no corpo. Pior: você não sabe que está sofrendo. Você está sofrendo. Como se estivesse levitando: e sofrendo. Você está atento. Sente todos os ruídos do mundo. Brecadas, um motor, os motores, mudanças de marcha. Sopros, sopros, como se um carro respirasse com o outro. Os carros entravam pelos corredores do hospital a dentro
Nós, doentes, moribundos, não existimos. Lembrem-se: quem está doente num hospital é um moribundo. A vida é um fio. Você está vivo. Você está mais vivo que nunca. Você sente que está vivo. Você está vivo numa tumba de mortos. O enfermeiro a dois metros de sua porta é um guardião da sua tumba. E que tumba fria. Você fervendo. Você não se importa, mas está fervendo. Você está fora de perigo, é eterno, mas está fervendo. O que está sentindo? Milhares de vezes lhe vem à cabeça a mesma ideia: Não estou sentindo nada. O corpo fervendo.
Folhas verdes no chão. Folhas verdes e vermelhas. A morte que deveria ter sido e não foi. Você está morto? Vivo? As flores murcham nos vasos, não têm raízes. Eu tenho raízes? Vruum, vroom, vooom, in, ein, iin, voom, vruum, vrooom. As minhas raízes nos ruídos, de fora, de dentro do hospital. O que existe fora, dentro de mim? Que história devo contar? Devo contar alguma história? Quem sou? Sou? Fui já alguma coisa? Ser? Que é ser? Existe um presente de ser? Existe um passado? O ser tem história? Que fazer do meu corpo ilusório? As flores murcham nos vasos, ilusórias.
A noite prossegue, a noite é infinita. Há um braço negro se estendendo sobre você, um braço enorme, um braço de sombra, pingando sangue. Tudo são perguntas. O que acontece? Até quando? Eu existo? Por quê? Para quê? Um anjo de sombra paira sobre você. A vida é um vaso com um pouco d’água e uma flor dentro. Alguém pergunta: – Quem conspira? Ninguém? Sim? Não?
A flor é executada. A beleza fenece no devido tempo: antes do tempo. A beleza é perene: mas fenece. A beleza é eterna, mas como uma ideia. A beleza vai morrer. Nós não somos nada. A permanência não existe. Pétala murcha. Pó. A cinza espalhada sobre a terra, a permanência, meu corpo vão. Que me queres? Ó mundo, ó demônios, o nada me espera. Eu sempre soube: o nada me espera. Eu não sou nada. Nada me prende a nada, a não ser este leito de hospital. Estou feliz. Não espero nada. Existe uma dor, mas eu não defino essa dor. Eu não distingo essa dor. Nem sei se dói. Ó vida, para que viver? Eu nem sei se quero viver ou morrer. Quantas vezes mergulhei do alto precipício e era uma visão sem fundo e era o vácuo, era o vácuo, o vácuo. No fim, não caía mais. Assim a vida. Estamos caindo? Cairemos mais? E o vácuo? Quem não sentiu o vácuo de viver? Morrer não é nada, viver não é nada. Que fazer? O leito do hospital me prende. Algemas de aço, estou preso, estou preso. Tenho as mãos e os pés presos em algemas de aço, e o pescoço, a língua, os olhos, o sexo.
Existir, que é existir? Existo como um morto-vivo existe. O que é realmente viver, morrer? Nem sei se estou sofrendo. Um século algemado a este leito de hospital. Os pulsos sangrando, os tornozelos, o pescoço. A fronte é azul. A fronte é vermelha de sangue e azul, azul, azul fosforescendo no escuro. Como brilha, esse escuro. E o dia não vem, o dia não vem. Por que queremos a presença do dia? O que é o dia? Morrer, viver, alguma diferença? Deuses, acorrentado a este catre negro. Acorrentado num porão de navio que sacoleja, aderna com a tempestade – vamos afundar? Tenho a certeza de que não vou afundar. Tudo é certo neste mundo. Por que sofro? Nada se acaba, a história continua, ninguém tem importância nenhuma. O homem sofre diante do universo, mas que é o universo? Que é o homem? Nada versus nada. Estrelas brincam de cabra-cega, esconde-esconde, mãe-da-rua. O que é a vida? Pirulito nas mãos de uma criança, chupou, acabou-se. Por que, então, viver? Resta, do pirulito, o sabor. Para quem? A criança? Por quanto tempo? Resta do pirulito o sabor. As algemas me roem o pulso. Estou preso a este leito de hospital. Estou preso à vida e olho meus companheiros, que são ninguém. Um coitado com dor de estômago resmunga e vomita no leito ao lado. O enfermeiro cochila na cadeira ao lado da porta. Meus companheiros não nutrem grandes esperanças.
Sei que vou morrer. Mas não agora. Hoje, nesta noite escura, não penso na morte. Hoje vivo a minha morte. Que longa, a morte. E, no entanto, sei que não vou morrer. Hoje, não penso na minha morte. Estou vivo como o diabo. Sabem o que é isso, estar vivo como o diabo? O diabo abana a cauda no meio do redemunho. Escorregando na vida como o diabo, liso como o diabo, com aquela baba gosmenta do diabo. A vida me escorrega por entre os dedos como o diabo. E eu sei que não vou morrer.
Não. Hoje não. É dia. Gente entra e sai. Vivi um século sem saber que doía. Sem saber que não estava morrendo muito devagar. Uma aranha me sobe pela cara. Uma aranha se gruda na minha cara. Estou limpo. Estou assustadoramente limpo. Um banho, lençóis limpos, pijama limpo e o mesmo corpo inerme. Inerme? Eu nem sabia que doía. Eu doía. Uma injeção me salva. Dormi. Dormi como um homem dorme. Como um anjo. Muito de leve. Como um morto. O morto que eu fui e sou.