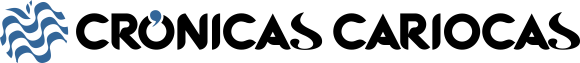(nota de abertura – curta, decisiva)
Esta crônica acontece no intervalo.
Quinze minutos entre um ato e outro.
DIIIM.
As cortinas estão abertas, mas ninguém está olhando para o palco.
DIIIIIIM.
Ando por esse tempo suspenso como quem flana: não chego, não parto — observo.
DIIIIIIIIIIIIM.
(Silêncio)
Sura Berditchevsky parou por diversas vezes um ensaio do musical mais emblemático da minha carreira de atriz, sobre os anos 60 (60, O MUSICAL, texto da amada Bibiana Beurmann — Bibi, você ainda me deve meu papel de vilã!). Veio no dia a convite do diretor e também ator do elenco — que contracenava comigo em nosso dueto romântico de “Summer Nights” e, além disso, também é meu primo, Bernardo Dugin (<3).
Aquela figura incrível e famosa, que nós — então quase todos jovens adultos e aspirantes à fama que prometem as artes cênicas — idolatrávamos por ser ela quem era, nos atravessou de vez. Reverenciamos quando tirou os sapatos para pisar na plateia em pleno ensaio, fez alguns de nós chorar e titubear sobre “ser ou não ser” possível apresentar o que já vínhamos fazendo no palco, em sessões anteriores.
Fomos o primeiro grupo de atores friburguenses a pisar no então Teatro Municipal Ariano Suassuna. Ariano veio à inauguração do edifício teatral – infelizmente não nos viu ali, em cena; chegamos dias após -, foi homenageado, discursou, posou para fotos. Só mais tarde alguém lembrou – com a seriedade que costuma chegar extemporaneamente – que havia uma lei impedindo homenagens não póstumas. Que gafe, Friburgo. O teatro mudou de nome e passou a se chamar Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. Nós seguimos em cena. Sura marcou nossas vidas.
Eu receava a vez em que ela faria algum comentário sobre mim. Quando pausou e disse:
Sura: Garota…
Eu tremi.
Mas ela apenas comentou, séria:
Sura: Você… você tem isso aqui…. — Sura faz marcações com os dedos sobre as próprias pálpebras — igual ao da Giovanna Antonelli…
Eu me senti.
Como diria minha mãe, em algum momento da vida:
Minha mãe, Lucia Monnerat: “Está sissi..!”
(Não confundam com vaidade: é apenas alegria bem ensaiada).
Como me disse recentemente Claudecyr Duarte, meu parceiro de desafios inusitados nos campos da movelaria arquitetônica — que eu crio —, das estruturas de artes visuais luminosas — que também assino — e do que parece impossível, por orçamentos improváveis ou prazos irreais, constante no mundo da arquitetura:
Claudecyr Duarte: Você não pode brincar de pique-esconde.
Eu: Por quê?
Claudecyr Duarte: Porque você se acha…
(Pausa, de natureza “drama-cômica”)
Ainda bem que, perrengues à parte — como diria o Clau:
Claudecyr Duarte: …e o amor só aumentando…
Humor e ironia são constantes entre as pessoas que me cercam. Tiramos sarro uns dos outros para exaltar boas características, de quando em quando, sem que o verbo achar, nesse contexto, traia a minha humildade. Eu acho, verdadeiramente, e curto tudo o que faço. E, sim, me senti quando fui comparada à Giovanna (quem não…).
Miguel Toscano (procurem-no no Spotify – ou cliquem aqui), então o prodígio musical da nossa trupe, com seus 14 anos e um gogó incompatível com tão diminutas idade e estatura, surpreendia e fazia — ainda faz — qualquer um congelar ao evocar Frank Sinatra cantando “My Way”, me apelidou nessa época de “Gijou”
Miguel Toscano: And now… the end is near…
(corte abrupto. Ouvem-se passos)
Miguel Toscano: Hey, Gijou!
Eu sempre associei o apelido à Giovanna — o que não era bem por isso; ele me lembrou recentemente. A lembrança veio quando deixei nas coxias uma encomenda do Bernardo: um microfone cenográfico retrô, desses que parecem ter vivido mais do que a gente, realizado em parceria com Felipe Saippa e que ficou, modestamente – ou não – lindo.
Era para O Homem da Montanha, musical escrito pelo querido David Massena, dirigido pelo meu primo e estrelado pelo Miguelito, sobre o nosso ilustre conterrâneo Benito de Paula. O apelido voltou inteiro, com voz e tudo.
Esse tanto de nomes aparece nesta crônica não por vaidade, mas por método: são eles que abrem as cortinas de um marco da minha trajetória artística. Ontem, 13 de dezembro, estreei como diretora teatral na Usina Cultural Energisa de Nova Friburgo — o point cultural da cidade, minha segunda casa, lugar onde já aprendi a entrar e a sair sem pedir licença.
Espaço que, neste mesmo ano, também acolheu duas obras minhas de artes visuais e luminosas na exposição Lux: luzes da memória, a convite do Resistência Artística — grupo de curadores-artistas formado pela dupla de Mários, Moreira e Massena, e por Tiago Vianna — encabeçados pelo produtor Wilton Neves e assistidos por Cherman, Luquinhas e Felipe, numa engrenagem que funciona, porque é feita de gente.
Sem esquecer da incrível Mariana Pietrobon, que conduz com maestria as atividades culturais da Energisa em Nova Friburgo e também integra o World Creativity Day na cidade, como eu e um número crescente de criativos — evento que, em 2025, foi chefiado pelo incansável e onipresente Marcelo Verly, com o bastão devidamente passado ao emblemático e multifuncional Beto Grillo, que ontem, por coincidência ou dramaturgia do acaso, também assinou a luz da peça Sem verba, com drama!.
Pois a peça… divaguei. Muitos nomes pedem passagem. Gabriel Cardoso (“O Paraíso dos Quase Lá”, Luva editora), à frente das aulas de Escrita Criativa e do Núcleo de Expressões Artísticas no Sesc Nova Friburgo, lendo crônicas incríveis para nós, sua turma da tarde comentou recentemente:
Gabriel Cardoso: Esses figurões do meio artístico eram todos amigos, cara… Imaginem, passar os réveillons com Vinícius, o Braga, o Chico… era meio que essa parada, sacou? Isso já não acontece mais…
Estou eu me achando de novo, com esse meu ato tão cronista de flanar por cenários
culturais.
…
(Voltando à peça)
Antes, porém, falta citar meu saudoso povo d’ “os 60”– tão adepto dos pós-ensaios e dos encontros corriqueiros banhados a vinho; nosso “60, O vinho” tem promessa de reencontro para (ainda) este fim de ano.
Anike Couto (bacharel em Artes Cênicas) e Lucas Braune (matemático com mestrado em Cambridge), um dos meus casais favoritos, são pais da linda e simpaticíssima Cecília e hoje vivem como cidadãos alemães; o outro Lucas, Veiga, que foi minha dupla nas canções da Disney, tornou-se psicólogo e, como acontece, a vida nos levou por caminhos distintos. Carmen Lúcia era uma amiga constante, apaixonada pelo universo das fofocas — trabalhou, inclusive, um tempo na Purepeople — e, em igual medida, por Fátima Bernardes e William Bonner; hoje é uma jornalista empoderadíssima. Gaori — então Tamires Braga, seu nome oficial — tinha voz doce e um poder quase hipnótico; hoje mora em um barco, navegando pelos oceanos da vida e atracando de quando em quando. Sua mãe, Ivana Valle Machado, maravilhosa, foi nossa estrela da Varig. O Miguel, eu já citei, e o Bernardo também. Éramos nove, um corpo cênico diminuto diante de um corpo de dança robusto, formado por bailarinos das escolas Cia. Marqui de Dança, Studio3 e da Academia Bibiana de Sá; pelo caminho, somamos participações especiais, como Yago Demier, meu par romântico em Time of My Life. As vozes de Paulo Carvalho (hoje in memoriam) e Cil Corrêa embalavam nossa rádio-guia. Atuei e também assinei a cenografia do espetáculo que cruzou palcos interestaduais por cinco anos: os cubos versáteis do Bê e o microfone cênico criado com meu parceiro de longa data, Hélcio Carlos Gomes – e não posso deixar a Carla Azevedo de fora, cuja indumentária venceu o Troféu Arlequim no Festival do Rio, em 2010. A direção vocal era de Lanúzia Pimentel.
(Finalmente…. Sem verba, com drama)
Texto de Matheus Emerich, encenado por ele, Lyvia Hottz e Dhara Freitas — três atores que me chegaram pelas aulas e montagens dirigidas pelo Bernardo. O Matheus me escreveu um dia desses pedindo opinião sobre um sofá cenográfico; de repente, me convidou para dirigi-los. O convite nasceu de um ensaio de cena em que contracenávamos, em 2023, na peça Vida (nada) privada. Eu os “dirigi” ali, mais por escuta do que por técnica, diante do nervosismo da pouca experiência dos dois.
Aceitei dizendo:
Eu: mas não sou diretora…
Uma herpes-zóster – combo da tríade estresse, baixa imunidade e, pasmem, sol -, ápice do meu inferno astral e pessoal, além de presente grego inesperado dos meus 37 anos – limitou minha participação aos quarenta e cinco do segundo tempo. Ainda assim, foi simples. Eles são incríveis. E o espetáculo foi demais.
Eu, que havia rascunhado escrever sobre um apanhado de considerações pescadas no algoritmo do Instagram — incluindo uma fala do Niemeyer em que nosso arquiteto mais conhecido se diz otimista ao mesmo tempo em que anuncia que tudo vai acabar e que a humanidade não tem jeito —, mudei de rota. As ideias pipocaram quando meu amigo arquiteto Diogo da Vinha postou o tal do vídeo do Oscar…
Eu: valeu, Dioguex!
(já adivinho a resposta)
Diogo da Vinha: “de nada, Nublex!”
…massegui por outro caminho: o do estrelato compartilhado. Ainda caberiam muitos nomes aqui. Agradeço a presença na plateia de ontem dos escritores Gabriel (que permaneceu em Friburgo após o encerramento do NEA, e também para não perder o jogo do Mengão), minha mãe, Lucia Monnerat (a mais nova cronista do pedaço! <3) e a Rita Aguiar, representando nossa turma criativa, e Sabrina Coelho, futura arquiteta, minha estagiária mais recente e suplente, comigo, junto ao Conselho Municipal de Políticas Culturais.
Já que falamos de teatro a maior parte do tempo, não posso deixar de citar Tânia Noguchi e Adriana Xavier, maravilhosas, responsáveis pelos preparos vocal e corporal das turmas do Bernardo; Antonio Guedes, diretor do grupo Pequenos Gestos, que me trouxe Guto Urbieta e papéis lindos que, infelizmente, não cheguei a encenar de fato; Fabio Samu, à frente do Jurisdrama da UFRJ – onde cheguei já como assistente, graças ao meu então registro de atriz – o DRT.
Cito também Mirna Rubim e Menelick de Carvalho, diretores maravilhosos que tive o orgulho de encontrar na primeira turma do curso Mergulho no Musical, na Casa de Artes de Laranjeiras — turma inteira incrível e atuante, cuja lista completa exigiria outra crônica. Da CAL, não posso deixar de lembrar Lidhiane Lima (quase dividimos a TV Globo em Malhação… ficamos só na memória dos testes), Rany Carneiro, Lorena Lima e Manu Rangel.
Houve ainda Celso Garcia e Evelyn Junqueira, casal maravilhoso que transformou eu e o Be Dugin em Sara e Renan no que seria a trilogia Gravidez Precoce, mas acabou sendo só uma única história – e a do meio; Manuela Lacerda, presente do Parque Lage, que me levou pela mão a alguns de seus curtas; e, ainda na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, Rogério Emerson Magalhães e a iluminação como linguagem para a arte — que teve, em nossa turma, figuras assíduas, boêmias e inesquecíveis, não é não, Rogerinho? Domingos Netto, Renata Levy, Raquel Carvalho, Marinah Raposo, Emmanuele Rodrigues, Rodrigo Daniel, Ilana Majerowich, Thiago Ortman, Bruno Trindade e Rafael Coutinho. Os bares do centro e da zona sul nos aguardavam ansiosamente.
Lembro também Rômulo Barros, que levou o “60” para a TV Aparecida na programação de Ano Novo; e José Henrique, coordenador da SUAT UFRJ, minha casa no fim da faculdade, onde tive bolsa de iniciação artística.
E, não menos importante, José Dias — imortal e maior cenógrafo do nosso país — orientador do projeto que me consagrou arquiteta e urbanista pela UFRJ: uma proposta para um novo Canecão, há cerca de dez anos. José Dias ainda me fez sua assistente de cenografia em Anos Radicais e em projetos de arquitetura teatral, como a reforma do Teatro do Colégio da Divina Providência e estudos de readequação de espaços cênicos. Por conta dele e de Lincoln Vargas — friburguense, então conselheiro e presidente das Políticas Culturais —, no ano passado acabei levando algumas peças para compor o cenário de Dedé Show, do grande André Mattos, e me tornei parte do elenco, ao lado de sua filha Maria Repetto, de seu irmão Paulo Mattos, do próprio André e do Lincoln. Cantei e declamei, assim de supetão, o poema Primo Basílio, de Eça de Queirós. Valeu por toda a parte de som de sempre, Alexandre Concencio!
Ano passado, também por intermédio do Bernardo, participei de duas leituras inesquecíveis do clássico de 1750 O Santo Inquérito,ao lado de Nilson Nunnes, Margarida Ferreira da Silva, Marisa Calheiros Alvarenga, Regene Britto e Leo Pontes. Leituras dramatizadas, com direito à indumentária, objetos cênicos e fogueira. Dar vida a Branca Dias — e ser queimada em praça pública — foi uma experiência das mais emocionantes.
Em retrocesso, cabe um abraço apertado a Mariângela de Andrade Erthal, a Poesia, que dirigiu com maestria o Teatro da minha já extinta escola tão amada, o Teatro do Externato Santa Ignez. Também não pode faltar a inesquecível Daniela Santi, cujo palco da Usina Cultural leva o seu nome, com quem fiz aulas na infância e, por feliz jogada do destino, postumamente, agora, tenho a honra de reformar uma parte de sua antiga casa.
Ouço o sinal.
Três toques curtos.
DIM. DIIM. DIIIM.
Alguém ajeita o casaco.
Outro larga o copo pela metade.
Ainda estou falando — ou alguém ainda está falando comigo — quando o fluxo começa a andar.
As luzes piscam.
O segundo ato vai começar.