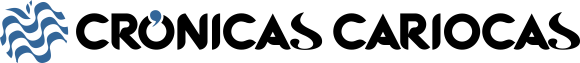É manhã de sábado, os raios de um dia ensolarado rasgam os tecidos da cortina e iluminam meu rosto adormecido. Há muito barulho de vida lá fora.
Levanto com os pés quentes e sonhadores no piso frio, lembrete físico das tarefas ainda por fazer. Me espreguiço, levanto o tampo da bacia sanitária, mijo. Descarga, torneira e sabonete líquido: jogo uma água de qualquer jeito no rosto, a toalha felpuda brinca de me fazer cócegas e eu sorrio.
Café. Preciso de café.
Pego água no purificador, encho a chaleira elétrica, ligo o botão, pote de pó de café, xícara vermelha. Não ouso olhar pelo vidro do armário e pegar a prensa francesa. Muita lembrança, a dor ainda arde no meio do peito, carne viva, vida ainda, enfim. A campainha toca. A chaleira estala. Tiro o interfone do gancho.
— oi, então… voltei. Posso subir?
(..!)
Ela vinha devagar, como quem teme assustar as paredes. Um pouco desengonçada, com os olhos verdes, quase cinzas. Um rumor de vento antes que os nós de seus dedos bateressem na face externa da porta antecede a minha falta de juízo: ela está ali, com a mesma roupa de sempre, o mesmo olhar **suplicante por abrigo. Eu estou ali, acreditando uma outra vez que, talvez, dessa vez, a palavra “voltei” dure. Nada nela pede licença: entrou, simples como um sopro.
Eu, sem antever a previsão repetida, me torno o personagem em slowmotion de novo – que inquietante a potência dos outros em fabricar nossas próprias características! Cena de filme clichê, coisa etérea, poeira suspensa. Uma nuvem entre o céu vazio que ela tanto se esbalda.
No começo, como em todos os começos antes, achei que o amor era isso: ficar leve. O café não esfria, ela me serve antes que isso aconteça. Encosta a cerâmica fria em meus lábios, me faz respirar diferente. É a minha cozinha. Não é a mesma cozinha. Ela joga os cabelos para um lado só com as pontas dos dedos — gesto comum, mas que suspende o ar da cozinha. O tempo pára, ou finge parar. Eu, que sinto e confundo sonho e acontecimento, observo: ela é mais ideia do que corpo. Parece feita do mesmo material das manhãs que não voltam. Há nela um quê de desenho inacabado: o contorno treme, a pele é quase vento, o olhar pesa mais do que o rosto. E, mesmo assim, sorri — um sorriso de quem se desculpa por existir e por não conseguir deixar de existir.
Sinto que a inventei e ela, por delicadeza, continua encenando que é real.
Difícil entender que leveza demais é outra forma de se partir: um vaso de plantas que se quebrou e colei sozinho, mas não segura a água das plantas; um eco de lembrança que se recusa a morrer; vento, sua forma mais triste de permanência. Irônico e cômico.
E eu, bobo, inteiro, continuo acreditando. Ela é boa em cuidar — não de mim, mas da imagem que deixei dela. Cautelosa demais, como se desarmasse sempre uma bomba, para ser humana.
Um fantasma educado, incapaz de errar, dessas pessoas que não sangram por medo de manchar o chão. Não é antifragil. Não admite consertos. Teme o caminho de desconstrução; é desconfortável o transitório. É tóxico se deixar transformar.
É desconcertante a sutil e total diferença entre sentimento e condição.
Jamais suportara ver o que fica depois do “cuidar”, o real: a bagunça dos gestos, o fedor da presença, o convívio que tira o amor do ideal. Queria o brilho, não o suor. Não entendera a distinção poética e viva entre abrir mão e dar as mãos; vivia no mundo idealizado da precisão, das decisões calculadas — não no das concessões e imperfeições humanas. Planejava demais, deixava pouco espaço para o acaso, para o erro, para o viver de verdade.
É mais máquina que mulher, mais tese que pele. E quando falha, usa o discurso pronto, como quem cita, não como quem sente:
— Errar é humano, está tudo bem.
Mas não está. Não quando quem erra é ela. Não suporta o reflexo da própria admiração; nem a vontade, secreta e infantil, de ser o outro. Eu sou esse espelho, e sei que ela tentou. Tentou ter os meus sonhos, camuflar-se no meu mundo. Não me abriu porta nenhuma para o seu. Mudar não é uma opção. Assumir a mim e a si, tampouco.
Estar presente não é para ela. Ela brinca de amarelinha numa superfície de casas
passadas e futuras. Pisa leve, pulando. Torce as pernas com graciosidade. Sorri em ambos os tempos – recentemente aprendeu a sorrir com os dentes endireitados por aparelhos ortodontários e pela minha presença em sua vida. Se viu perdida de identidade. Surtou.
— Quem sou, se não estou pronta?
É bonita, a danada da imagem distorcida! Mas ela não quer estar aqui, na minha cozinha, o saguão inexorável de um aeroporto internacional. Quer estar no movimento que a faz ser alguma coisa.
Vai indo embora da mesma forma sorrateira e desonesta que entrou, à francesa — tal qual a origem da cafeteira que me encara, relembrando-me que, sim, tudo o que tivemos foi real, eco do que poderia ter sido numa frequência de momento eterno. Ela prometeu. Prometeu me olhando nos olhos. Olhos verdes. Olhos-cinza. Tudo virou pó, eu suspirei, comunguei sozinho junto à fênix derradeira.
— imbecil de mim, que chamei o eco de sentimento.
Não sei se era falta de amor, não acredito verdadeiramente… Acho que tal proteção desmedida nunca teve motivo. Era medo, e só isso. Do sucesso. Do mundo a julgar. De se permitir viver a vida, gozar dela; o embate entre o enxergar meu excesso de alma e sua rasa profusão de quem nasceu para pilotar aviões com copilotos artificiais e sem passageiros. Sabe de cor o que estuda, os manuais de aeronaves. Teorias que precisam funcionar, é preto no branco.
Deixou escapar, num momento de retorno, que eu a fazia ver o mundo com cores. Que ali, no aconchego das 4 pernas debaixo de um cobertor no meu sofá, comendo pipoca, era plenitude. E que o conjunto era poderoso.
Tais coisas se confundem quando o tempo esgarça. E com ela, sempre, involuntariamente, se esgarça. Eu lhe dou de presente o que eu existo no agora. Ela só tem fusos horários que não me encontram.
Só sei que ela ama e odeia com a pressa de quem tem de pegar o próximo voo. Viagens sem reembolsos. Voos sem pouso e sem escalas. Combustível infinito, vida perdida. Viagem… a viagem na paranóia humana.
E eu, que sou pedra, não peso, mas gemo a me lapidar pelo processo da vida. Gemo em gema e brilho. Pareço os raios que me acordam com a furiosa simpatia de um nascer de dia: eu sonhei ser terra fértil.
Preparei a minha casa para um corpo vento. Projetei os fluxos livres. Convidei as brisas, todas. Me enfeitei com o perfume mais marcante, para que ela o carregasse consigo. Um vento que ela escolhia ser, pois a humanidade, nela, a enfraquece. Ela prefere relacionar-se com máquinas. Prefere o irreversível irreal. Sua condição de menina ferida, adolescente que finge acreditar tão somente em seu poder interior.
E o que é o amor, senão o desapego da matéria para se manter leve? Leve é ser vento ou se estar seguro em uma estrutura que resista e acolha a ele próprio?
(nada se movimenta, só o visor digital do relógio de cabeceira).
Guardo dela o som dos passos que sempre se vão, não o rosto. O tom do verde desbotado e craquelado em cinzas, é tudo o que me resta.
A chaleira esvaziou. O pó de café firmou-se no filtro de pano. Lacrei a prensa francesa em uma caixa de papelão destinada a doações. A natureza é morta em todos os quadros da casa.
Guardo a ideia de que talvez o amor não precise durar — basta doer bonito. Doer queimando. Doer para não existir e dar sentido a não ser.
Durmo.
Na manhã de hoje, tal domingo em que os despertadores são o silêncio prolongado da madrugada companheira, minha taça de vinho substitui a xícara vermelha. Me olha do topo de seu corpo translúcido e brilhante, fixamente, como quem pergunta:
— Voltaria a amá-la?
Ao que respondo “sim”, pois verdade seja entendida: não se deixa de amar por um triz, por uma mera vontade, desilusão ou capricho. É um processo. É a dor de não querer apagar o possível, que jamais será aceito, da parte dela.
Amá-la é fazer um pacto com o silêncio. É espetar-me e sangrar sozinho. É aguardar o próximo vento, ou uma mísera brisa.
Desta dolorosa manhã repetida de sábado, resta o domingo árido. Resta a realidade sem. Restamos eu e meus desenganos.
Graças aos céus amanhã é segunda-feira.