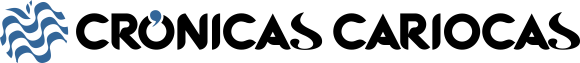Zími entregou a Mila Cox uma sacola para discos com um LP dentro.
Ele não a havia presenteado em seu aniversário, dois dias antes.
Conhecem-se desde o nascimento de Mila Cox, e trocavam presentes eventualmente, mas sempre com alguma zoeira sutil envolvida.
Era uma edição nacional e comum de uma coletânea da Siouxsie and the Banshees, em bom estado de conservação.
A contracapa, no entanto, trazia uma dedicatória escrita com esferográfica, que deixava claro que alguém ganhou o disco de presente e passou adiante sem remorsos.
A dedicatória tomava quase a metade da contracapa, e Zími havia comprado por dois reais, por conta de depreciação.
Zími havia esquecido a sacola na Kombi de Silvano no dia anterior, e a encontrou naquele momento, num compartimento oculto que há no banco traseiro.
Zími falou: “Não é um disco raro, mas essa edição vem com um texto na contracapa.”
Mila Cox: “Nossa! Dedicatória de 1985! Amei! Valeu!”
Eram onze horas da noite do sábado, fazia frio e o camarim e ponto comercial dos Crop Circles era a kombi do camarada Silvano, uruguaio que morava no mesmo prédio que Mila Cox e Zími.
Mila Cox e Zími eram os Crop Circles. Um duo, com baixo, sintetizador e bateria.
Silvano definia o som deles como uma mistura de Violeta de Outono com X-Ray Spex.
Ele era músico também e atuava como uma monobanda.
Tocava sentado, usando violão microfonado ou guitarra, e fazia a bateria com os pés, uma gambiarra com caixa, bumbo, chimbal e muita silver tape.
Zími também usava um kit minimalista de bateria e tocava de pé. Era apenas caixa, prato e chimbal.
Silvano falava português sem sotaque porque vivia em São Paulo desde os quatro anos de idade.
Para pagarem suas contas, Mila Cox era copywriter, assim como Zími.
Silvano fazia carretos e entregas com sua kombi.
Ambas as atrações se apresentaram numa festa junina nessa noite de sábado.
Silvano tocou antes. Os Crop Circles haviam encerrado seu show às dez horas. Ambos os shows agradaram o público.
Esses shows aconteceram na casa de Miro, um agitador cultural do bairro da Casa Verde, que já teve uma banda de Hard Core chamada ‘Colaterais’, e queria fazer uma festa junina com rock alternativo.
Era uma casa grande, a última de uma rua curta e sem saída. Os demais moradores da rua endossaram a ideia e tudo correu dentro do previsto.
Conheceram-se num show dos Crop Circles ocorrido meses antes, em Santo André.
Tinham outro show marcado para o fim da tarde do domingo, em São Caetano.
Era como se estivessem no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo de um jogo de futebol.
Mila Cox tinha vinte anos sabia que a vitória só se consolidaria ao término do show do dia seguinte, caso tudo fosse mantido sob controle.
Zími e Silvano tinham quase cinquenta.
Os dois sabiam que muitos artistas com a idade deles, nos dias de hoje, começam a se preocupar com excessos, especialmente naquele momento em que uma agenda estivesse apenas parcialmente cumprida.
Quando bebiam, sempre repetiam um ao outro, em meio a gargalhadas, que só não eram completamente inúteis para o sistema, porque ainda faziam mercado e pagavam por gasolina.
Com medo de que os dois ficassem muito loucos e dessem milho no show de domingo, Mila Cox buzinava na kombi parada a cada vez que um deles cochilava de bêbado, enquanto ficavam vendendo camisetas dos Crop Circles por mais um tempo depois do show.
Quando ela buzinava, o som era tão estrondoso dentro e próximo ao veículo, que os dois pulavam de susto e ela ria.
Zími e Silvano estavam felizes porque estavam com gasolina paga e alguma bonança financeira com o show de sábado. Tomavam Domecq, cada um com sua garrafa, bebendo no gargalo.
Era o dia de aniversário de Gene Vicent, e naquele dia Silvano tocou clássicos desse mestre e de alguns de seus contemporâneos, em versões mais aceleradas, para complementar seu repertório de músicas próprias.
Silvano falou para Mila Cox: “Você deveria ter paciência conosco, e entender que sair pra tocar num sábado sem ter prejuízo financeiro como muitos artistas que pagam pra tocar, e ainda lucrar com camisetas e discos, e além de tudo ter um show no dia seguinte, num ambiente completamente diferente, com o tanque da kombi cheio! Amanhã não tem cachê. Terá o pagamento do valor de um tanque de kombi cheio de gasolina, mesma coisa que foi hoje. Amanhã quando voltar pra São Paulo e estacionar na garagem do prédio, teremos lucrado com essa logística bem elementar. Eu e o Zími somos coroas, mas você sabe que mesmo que um de nós morrer hoje, vai levantar e fazer o show assim mesmo, zumbi. Então fique sossegada. A gente já vai voltar pra casa, quando miar o movimento aqui.”
Zími falou: “Eu adoro a ideia de ter show amanhã. Eu descanso na segunda. Estou vivendo um momento sublime. Na segunda dormirei, enquanto algum escravo assalariado contemplará o próprio retrato na parede de alguma firma por ter sido eleito o funcionário do mês, enquanto seus verdadeiros superiores hierárquicos estarão em orgias, em plena manhã de segunda. E em seguida um gerente patético o chamará de mocorongo e o fará voltar ao trabalho. E nós poderemos lamentar essa condição social mórbida criando mais uma música.”
Mila Cox: “Eu tenho paciência suficiente. Sei que a Carole King não gravou o ‘Tapestry’ do nada. Foi preciso passar por muita coisa antes de entrar definitivamente pra história. Está tudo bem, agora nós temos uma kombi. Antes de mudarmos pro apartamento e conhecermos o Silvano, foram dois anos com um Chevette 79, e naquele tempo o Zími tinha pavor de fazer shows em dias seguidos. Vocês já estão cozidos por essa bebida e nem sentem o frio que está fazendo. Mas eu não reclamo. Fazer merda virar adubo tem que ser um lema quando ainda se está construindo uma reputação.”
Zími: “Alcançamos alguma prosperidade sem sucumbir a ideias megalomaníacas de estrelato. Seguirei com essa postura em tudo que eu fizer. Lembre-se sempre que se nós tivéssemos nos transformado naquilo que nossos pais sonharam pra gente, teríamos um destino tão diferente que nem é bom tentar imaginar. Então estar aqui é uma glória. Expectativas exageradas sobre o futuro diminuem a importância do nosso presente vitorioso. Além do mais, São Caetano é perto.”
Mila Cox: “Você pelo menos fez faculdade. Pelo menos um de nós. Eu ainda sofro com esse tipo de pressão. A vida acadêmica me tomaria um tempo precioso.”
Zími: “Fiz a faculdade de jornalismo apenas pra me livrar dessa pressão. Não reclamo daquele tempo. Hoje eu vejo no que meus colegas se transformaram e agradeço ainda mais pela minha sorte. Com diploma, ainda que inútil pra minha vida prática, sem filhos, com uma banda, e tentando prolongar a juventude sem fazer um papel ridículo.”
Ao redor da kombi, estacionada na frente da casa de Miro, adultos conversavam e bebiam, crianças brincavam, cachorros passavam farejando alimentos que caíam no chão, e uma trilha sonora mais tradicional em festas juninas era o que se ouvia naquele momento.
Pessoas que sabiam que a segunda feira chegaria rápida e impiedosamente, dançavam bêbadas com o sossego de estarem próximas de suas casas.
Eram cerca de duzentas pessoas.
Silvano pensava secretamente se realmente valeria a pena voltarem para casa, ou se seria vantajoso dormir na kombi com os equipamentos, e na tarde seguinte seguir para São Caetano e fazer o show.
Dessa vez, mais duas bandas tocariam: Silvícolas e Secreção.
Zími falou: “Amanhã será outro dia de glória. Vamos tocar antes das duas bandas. É um jogo ganho. Há um sabor especial em fazer a nossa parte e ter mais dois shows pra assistir. Gosto de tocar domingo. A atmosfera não é carregada daquela urgência em se divertir a qualquer custo. Os Silvícolas são ‘posers’, certamente vai ser engraçado de assistir. Ouvi umas músicas na internet e não consegui entender se eles fazem sátira com o ‘hair metal’ ou se realmente se levam a sério. Espero que seja sátira. O Secreção tem umas músicas boas, mas vamos ver se ao vivo chamam a atenção. Mas gosto da forma como eles desprezam o sistema e todo tipo de estrelismo no comportamento de quem se torna afetado por ter uma banda e consegue agendar um show. Musicalmente são de uma linhagem derivada do Minor Threat. Eu não sei se a pessoa que chamou essas bandas tão diferentes fez de propósito ou se faltou critério. O antagonismo entre eles é brutal. Mas é bom misturar. Não é possível que vá rolar alguma treta. Mas se rolar, o Silvano vai filmar pra colocarmos num documentário futuro.”
Silvano: “Ainda existe treta desse tipo? São moleques criados pela avó, não vai ter nada disso. Além do mais, será outra festa junina!”
Mila Cox: “Existe gente cretina o suficiente pra tudo que se imaginar, mas eu conversei com eles pela internet, vai ser sossegado. O público que eles vão levar será as namoradas e meia dúzia de amigos também criados pela avó.”
Zími: “Sim, são moleques da sua idade. Vão ficar com vergonha de fazer qualquer merda juvenil depois que o Silvano e nós tocarmos. Provavelmente eles têm grandes expectativas sobre o futuro, e como quase ninguém os conhece, não vão querer queimar o filme.”
Por volta da meia noite, as pessoas começaram a se despedir e ir embora.
Mila Cox falou: “Vamos embora, temos que atravessar o rio Tietê pra chegar no centro. É um rolê. Antes que fiquem ainda mais bêbados.”
Ao ver abortada sua ideia secreta de estacionar perto de alguma loja de conveniência e dormir na kombi, Silvano se ajeitou ao volante resmungando sutilmente.
Foram embora dormir em casa.