
PALAVRAS E ARTE
Mesmo que palavras sejam uma paixão e ferramenta de trabalho, as palavras não são naturais; vejam, me explico.
Natural seria o canto dos pássaros e os latidos dos cachorros. Os sons guturais com que nos comunicamos na fase primeira de nossas vidas, o amamentar, o fazer sexo. Depois que o homem descobriu o fogo, inventou a roda e pintou o interior das cavernas – a cores! -, as ações modificaram-se; era o princípio do artifícios, a pedra fundamental da Era das inteligências artificiais, as IAs, tanta tecnologia resumida em duas vogais maiúsculas.
Tendo este ponto crucial em mente, toda inteligência humana, a despeito daquela emocional, é um artifício frágil e brilhante, uma película adiamantada para conter o que não quer ser contido. Cachorros, por outro lado, são inteligência bruta, expressão do puro; nós, não mais. Somos nós os adestrados, muito mais do que eles. Adestrados adestradores – adestramos porque tememos; criamos uma sociedade que nos aprisiona em moldes e imposições. Domesticamos não só animais, mas a nós mesmos, numa educação das horas e vontades: choros devem ser silenciados, fomes enquadradas nos horários das refeições e das prescrições das dietas; os desejos, contidos, o dormir e os sonhos adiados para horários plausíveis. Isto é certo; aquilo, errado. Condensamo-nos na teia da comunicação de um mundo codificado, como escreveu, traduziu e reescreveu Vilém Flusser. Por quê? Para caber nos moldes que inventamos. Tudo em prol do que chamamos civilidade – mas que, no fundo, é tão somente a condenação e a camuflagem dos instintos.
Esta semana tive a honra de encenar pela segunda vez uma peça de Dias Gomes, chamada O Santo Inquérito, sob a forma de leitura dramatizada. Um texto denso, de uma verdade sobre as imposições dos homens, sobre a negligência e reprimendas de palavras e de nossas ações – inocentes e naturais. Também tive a ocasião de encabeçar a produção da pré-estreia de um Festival de Cinema Italiano, uma obra-prima de organização com dedicação 100% voluntária de descendentes e apreciadores da cultura italiana e da sétima arte; uma sessão fechada para convidados em um equipamento cultural local de prestígio e pequeno porte (leia-se capacidade de público limitada), com coquetel e um debate – riquíssimo – entre um cineasta chefe de um cineclube muito atuante na região e um artista multitalentoso com uma experiência artística na África Diáspora. O evento, para convidados, era dependente de confirmações que, ironicamente, muitas vezes foram tão frágeis quanto as palavras de aceitação social. A natureza com que as pessoas atualmente dizem sim por um simples ‘compromisso’ social muito me assusta. O filme escolhido, Io Capitano (Eu Capitão), com indicações ao Óscar, conta a história de dois senegaleses em busca de melhores condições de vida. A busca por dignidade desmonta todas as ilusões; uma travessia que nos dá um baita soco no estômago sobre como transformamos, pelo fato de sermos criaturas “poderosas” a realidade natural do mundo e de todos os seres.
Pessoalmente, não consigo entender como a população de uma cidade de médio porte, como Nova Friburgo, pode reclamar de não ter o que fazer quando há tanto, de uma qualidade enorme à disposição e as ausências manifestem uma posição política, até, contrária às suas próprias contestações. Talvez as ausências digam mais do que gostaríamos: um descompasso, um eco da nossa desconexão. Palavras não são naturais.
Ainda ontem, para compor o cenário de um espetáculo teatral chamado Dedé Show, do imenso André Mattos, cuja direção de arte é do meu mestre José Dias, quem me orientou no projeto final da minha graduação, – e de quem fui logo em assistente em alguns projetos -, me vi de uma quase assistente a componente da banda e, como intercâmbio cultural proposto pelo grande artista e sua performance brechtiniana, ainda declamei Eça de Queiroz, após ser apresentada do palco, em pleno espetáculo. E me encantei com sua história de vida, sua encenação brilhante e palavras, tão naturalmente impactantes.
Foi um instante em que tudo caiu por terra; a palavra, desnuda, voltou à sua forma mais próxima do que poderia ser natural: uma centelha. E talvez seja isso que a arte faça por nós: devolva-nos a selvageria esquecida, o grito que a forma das palavras tanto tentam domesticar. Sob a luz da arte, a palavra não se molda, mas chama, um convite à integridade perdida, ao pulso humano que nos faz, mais que civilizados, artistas por essência.
E mesmo que palavras sejam uma paixão e ferramenta de trabalho, as palavras não são naturais. Mas podem… não acham?
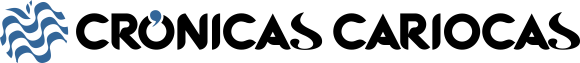















Parabéns, Bia! Você esculpe ideias como uma artesã das palavras, dando vida ao abstrato com muita maestria.
Vou concordar com você Rick, Usarei suas palavras para valorizar essa artesã de palavras . Parabéns Bia.