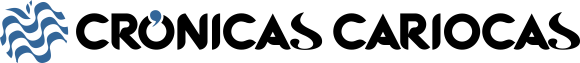Semana passada a bateria do meu carro pifou. Como eu estava no subsolo de uma agência bancária, tive que ligar para o seguro a fim de solicitar um mecânico. Uns 30 minutos depois o rapaz veio, examinou o artefato avariado e o condenou.
— Aqui só outra.
— E agora? Onde posso mandar buscar uma?
— O senhor liga para a loja Tal — e me passou o telefone. Quando eu lhe pedi uma sugestão de marca, ele me perguntou se eu pretendia vender o carro.
— Não. Por quê?
— Se for vender compre esta, que é mais barata (e me indicou o nome). Agora, se for ficar com o carro por mais um tempo, leve esta (citou outro nome). É um pouco cara, porém bem mais econômica e difícil de quebrar. Duvido que deixe o senhor no prego.
Escolhi a segunda, pois não pretendia tão cedo vender o automóvel. Bateria instalada, voltei para casa pensando na alternativa que o mecânico tinha me apresentado. A escolha fora fácil pois, como disse, o carro ainda iria ficar comigo por um bom tempo. Mas… e se eu fosse me desfazer dele? Qual das marcas teria escolhido?
Comecei a pensar nisso e senti um arrepio. A pergunta do rapaz tinha implicações profundas; envolvia um dilema moral. Pensei em Kant, que fundamenta sua ética na máxima: “Não faças a outrem o que não queres que te façam.” Se eu escolhesse a bateria mais barata e dispendiosa, que além disso podia quebrar, estaria fazendo a outrem (o eventual comprador do meu carro) o que não queria que me fizessem.
O curioso foi a maneira objetiva, prática, direta, com que o mecânico me fizera a pergunta. Não havia hesitação nem escrúpulo, como se a proposta fosse muito natural. Ele sempre devia apresentar essa opção aos clientes. Alguns até lhe dariam uma gorjeta pela dica, mesmo que isso reduzisse a vantagem obtida com a escolha do produto ruim. O importante era o pequeno lucro imediato, acrescido do indizível prazer de enganar o outro. Pois esse tipo de escolha não vale só pelo dinheiro; vale também (ou sobretudo) pela sensação de ter sido esperto.
Já chegando em casa, me dei conta de que a sugestão do rapaz diz muito de nós. No trabalho, no comércio, na política e mesmo nas relações interpessoais, nos comportamos como o sujeito que passa a bateria ruim sem considerar o que isso pode trazer para o outro.
Tudo fica ótimo até o momento em que somos nós esse outro. E quando nosso carro quebra no meio de uma viagem noturna e ficamos com a família ao relento, protestamos contra o egoísmo do ser humano e lamentamos pertencer a espécie tão mesquinha. Esquecemo-nos de que dela fazemos parte e não raro somos nós a protagonizar a trapaça.
Talvez seja por isso que este carrão chamado Brasil não anda – ou anda muito desigual. Falta em sua “bateria” a corrente do interesse pelo bem comum. Somos antikantianos por atavismo e convicção, fazendo sempre que possível aos outros o que nunca desejamos para nós.