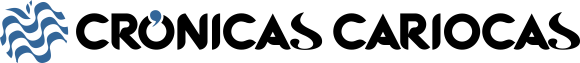Quando Zími entrou no apartamento, a tábua do piso fez barulho. A luz do quarto de Mila Cox acendeu, ela abriu a porta e falou:
“O universitário quer fazer a entrevista com você. Certamente porque te considera um punk velho, cheio de histórias pra contar. Deve ser machista, pouco acostumado com mulheres no rock. Ele disse que colou no show de Santo André.”
Ela anunciou a ele que um jovem que estava presente no fim de semana anterior numa apresentação de Zími e Cox com a banda que tinham juntos, Crop Circles.
O jovem a qual Cox se referia era estudante de jornalismo, e queria a entrevista para um trabalho acadêmico.
“Talvez tenha preferido falar comigo pelo fato de eu ser coadjuvante. E o envelhecimento é um processo magnífico, no qual nos tornamos a pessoa que sempre deveríamos ter sido. Minhas versões anteriores estão perdoadas porque era o melhor que podia fazer na época.” — respondeu Zími.
“Você não é coadjuvante. Nós dividimos os créditos de todas as músicas.”— disse ela.
Ela anunciou também que compraria um baixo Gibson Thunderbird, e que daria seu Fender Jazz Bass como parte do pagamento.
Fosse financeira ou musicalmente, isso pouco importava para Zími.
Cox tomou a decisão ao receber de sua avó a pressão para se manifestar sobre seus planos para ingressar no ensino superior.
Precisava tomar uma decisão, e a tomou, mesmo sendo algo que nada tinha a ver com o desejo de sua avó.
Ela tinha agora vinte anos e ainda não tinha o desejo de entrar para uma faculdade.
Zími tinha quarenta e cinco e se formou em jornalismo antes dela nascer.
Geralmente era ela quem respondia às perguntas quando alguém pedia para entrevistá-los.
Eles eram integrantes da banda Crop Circles, um duo.
Ele era um baterista minimalista, que tocava de pé seu econômico kit percussivo, e em algumas músicas também atuava como vocalista.
Ela era baixista e vocalista, e usava um sintetizador para suprir a ausência proposital de um guitarrista.
Dividiam as composições, mas no palco, ela ficava à frente.
O universitário queria fazer a entrevista de forma falada, pela câmera do computador.
Zími já havia feito entrevistas, geralmente para outros estudantes, mas nessas ocasiões, havia respondido por escrito a perguntas que havia recebido por e-mail.
Marcaram a entrevista para a tarde do dia seguinte.
Na maioria das vezes quem atendia a esses pedidos era Mila Cox, que estava na sala quando Zími estava pronto para falar.
Ela estava curiosa sobre como ele se sairia.
Sabia que se tratava de um cara bem articulado, mas que podia não medir a força das palavras, dependendo do tema abordado.
Num dado momento, foi perguntado se eles tinham planos de fazer trabalhos solo.
Zími respondeu que no seu caso seria um livro, que já estava em gestação, e não outra atividade musical, ainda que o conteúdo desse livro fosse em parte relacionado à música.
O monólogo a seguir se deu quando Zími foi questionado sobre os baixíssimos índices de leitura do povo brasileiro, logo depois de dizer que seu projeto paralelo à banda seria um livro.
“Não tenho qualquer ilusão sobre ser reconhecido por mérito literário.
Acho que na música conseguimos ter alguma influência cultural, pelo retorno que temos de pessoas que vão a nossos shows e ouvem as músicas que lançamos em mídia física ou pela internet.
Mas no Brasil, a grande maioria das pessoas vai para a internet sem nunca ter lido um livro na vida.
Será invariavelmente mais um idiota na internet.
Terá como referência milhões de outros idiotas.
Inspirando e apoiando uns aos outros, os idiotas na rede se multiplicam.
Não se darão conta da própria estupidez e ridicularidade, e irão cada vez mais longe com ela, por causa da própria burrice e principalmente do retardamento mental coletivo que o cercará, e que até mesmo o acolherá na grande rede, dando-lhes mais confiança para novas empreitadas desastrosas e constrangedoras.
Mas na verdade, essas empreitadas são desastrosas e constrangedoras apenas para pessoas que respeitam minimamente a própria inteligência, ou que tenham salvado para si um fiapo de sensibilidade e opinião própria.
E a internet, que quando usada por pessoas que não tem preguiça de evoluir, é um portal interminável de conhecimento, uma universidade que cabe no bolso, e acaba tendo suas serventias desperdiçadas quando usadas por pessoas com a cabeça oca.
Esse portal incrível, em simbiose com a outra parte, majoritária, que é um antro de patuscadas e um oceano de motivos para vergonha alheia, precisa ser peneirado para que dali se tire conteúdo relevante do meio de tanto lixo.
As convicções precipitadas e inabaláveis das massas, que constituem o tão desprezível senso comum, crescem destrambelhadamente, sempre para o prejuízo do próprio rebanho, que desconhece o potencial de autodestruição que sua ignorância e alienação possuem.
A falência cultural que atingiu essa estúpida sociedade de consumo, em todas as classes sociais, se confronta com períodos anteriores em que a produção cultural para as massas ainda tentava usar a qualidade como atrativo, ainda que misturada com recursos que a tornassem mais palatáveis para o gosto popular.
Antes da internet, era necessário que o artista superasse o direcionamento artístico imposto pelas rádios e, no caso do Brasil, também a escassez de programas dedicados à música.
Com a chegada dos anos oitenta, essa escassez se tornou crônica, e o Rock produzido no país enfrentava a falta de familiaridade do público, dos produtores e executivos das gravadoras com o gênero, e em muitos momentos, os arranjos típicos da época, que logo se tornariam datados.
Os artistas da Motown e da Stax, por exemplo, tinham um nível de excelência artística indiscutível, podem agradar desde um intelectual até uma pessoa menos esclarecida, desde que esta ainda tenha alma, e que de alguma forma tenha acesso a essas obras.
Tornaram-se clássicos, romperam barreiras entre o que se considerava música negra e música branca, mas hoje, nem mesmo o advento da internet torna possível sua apreciação por uma maioria, que é movida por sucessos populares instantâneos e descartáveis, de qualidade rasteira, machista e sexista, e que não lhes dá consistência para durar como arte.
Nem precisam durar, pois para a engrenagem sinistra funcionar, o povo tem que estar cada vez mais afogado em conteúdo de qualidade cada vez mais pobre.
É preciso que haja quase imediatamente a substituição desses sucessos populares por novas aberrações musicais, que alimentam a alienação do gado, que por sua vez as consome avidamente, sem qualquer questionamento. Apenas vão seguindo o resto do rebanho. Falta referência.
Não há saída para esse beco inóspito, uma vez que a educação e a cultura, que são armas poderosas para que uma pessoa possa adquirir discernimento, não fazem parte da realidade brasileira.
É preciso estar muito além disso para que um território povoado possa ser chamado de país.
É preciso que as pessoas leiam, deixem de ser bisonhas, para que não sejam manipuladas de uma maneira tão triste.
Baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar, ao invés de pesquisarem, para que saibam efetivamente sobre algo.
São pessoas cheias de necessidades implantadas, que não são reais. Isso lhes causa frustrações diárias.
Seria mais legal se vivessem menos de aparências, que deixassem de guardar taças de cristal para visitas, enquanto bebem em copos de requeijão.
Ontem mesmo recorri a uma fuga, tomei umas bebidas pra comemorar a vitória do Uruguai sobre o time da CBF., antes de colocar som num baile da saudade. Não sei como alguém que diz ter alguma estima pelo país pode torcer pra aquela gente.
Mas antes disso fizemos uma música parodiando a alienação do povo brasileiro.”
Zími foi discotecar numa festa para pessoas da terceira idade, convidado pelo pai de um amigo que fazia aniversário naquele dia.
Antes da conversa com o universitário começar, ele havia espetado o pen drive que levara para a festa, que tinha músicas pop dos anos sessenta.
Para que a discotecagem não fosse uma picaretagem completa, Zími alternava as músicas do pen drive com a execução de compactos de vinil de Chriz Montez, Classics IV e outras coisas do gênero.
Na festa ele contava com uma vitrola para tocar discos de vinil e uma caixa de som para espetar o pen drive, enquanto fingia manipular os discos.
O universitário estava ouvindo as músicas de fundo enquanto Zími se prolongava nas respostas e perguntou sobre aquelas músicas, que não pareciam com o estilo dos Crop Circles.
Zími, que vestia uma camiseta dos The Germs, admitiu que nesse ponto, ele e Mila Cox sofreram influência do Jesus and Mary Chain, ao tentar colocar melodias pop encobertas por ruídos pouco ou nada palatáveis aos ouvidos médios, acostumados com hits radiofônicos.
Quando o jovem universitário lhe perguntou sobre o que Zími esperava do futuro da música e da humanidade, ele respondeu:
“Não vejo o futuro humano com otimismo nenhum. Do micro ao macro, a tendência é a autodestruição da espécie. Tudo está caminhando para um lado sinistro.
As pessoas se enfurecem com banalidades cotidianas, mas quando se trata de acontecimentos que devastam suas vidas irremediavelmente, parecem pouco se importar, ou nem mesmo perceber.
Individualmente, não é raro que atinjam patamares olímpicos de constrangimento aos poucos que pensam com alguma clareza e discernimento.
Sobre o cenário político mundial, é ainda mais pavoroso falar.
Logo as diferenças irão causar uma erosão política irreversível, sendo que a atual conjuntura de guerras poderá acelerar o fim a médio ou até mesmo a curto prazo.
A música parece acompanhar esse processo. É possível encontrar coisas boas no underground, longe da grande mídia, que compactua com a destruição do cérebro das pessoas, que não apreciam música como sendo uma forma de arte, e sim como uma distração bastante rasa, machista e sexista.
Chegamos a um ponto em que a música de qualidade, seja qual for seu gênero, é destinada a um nicho, um grupo seleto de humanos que usam o cérebro.”
Depois da entrevista, fizeram pizza no forno de padaria que tinham na cozinha.
No dia seguinte, começaram a compor uma música em homenagem a Dwight Twilley, assim que tomaram conhecimento de sua morte.