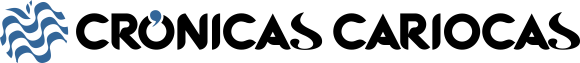Quando o nosso nome estiver gravado na pedra
Até os dez anos me chamei Donato, embora meus pais nunca tivessem gostado desse nome. Por que me batizaram assim é um mistério. “Não está com o rosto definido ainda”, diziam. “Quando for adulto e sua cara indicar que nome deve ter, mudaremos.” E assim foi. Aos doze, com a mudança de voz, decidiram que Donato já não combinava comigo, e que o melhor nome para meu rosto recém-estreado na adolescência seria Adalberto — Beto para os amigos. Esse nome durou até a noite de núpcias, quando, no momento crucial, minha mulher me chamou de César. “Céeeesar!”, gritou ela, antes de largar o corpo na cama, suada e satisfeita. “Ela se casou com o Beto e tirou a virgindade do César”, meus amigos faziam sempre a mesma piada.
Desde então mudei de nome em outras três ocasiões: no escritório em que fui trabalhar eu me sentia Oswaldo, e assim me apresentava a todos; na faculdade, Péricles; na mesa de jogo, antes de bater o punho e gritar “Truco!”, Evanildo.
Meus amigos se confundiam. Para facilitar a vida deles, aceitei que colocassem no meu pescoço uma tabuleta com o nome que eu usava no momento e, mesmo assim, ficavam pouco à vontade quando tinham de me chamar. Achavam essa mudança de nome uma bobagem. “A gente nasce, ganha um nome e fica com ele até o fim, até morrer, não é esse o normal?”, perguntavam sempre. Eu respondia que eles tiveram sorte, que o rosto deles se moldou ao nome que ganharam no batismo e não havia necessidade de mudar. Não era o meu caso, meu rosto não era sempre o mesmo e, por isso, o meu nome precisava se adequar. Para tranquilizá-los, eu acrescentava que, um dia, seríamos todos iguais, teríamos o mesmo rosto e o mesmo nome gravado na pedra.