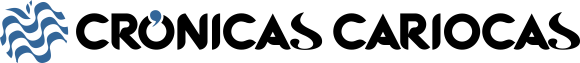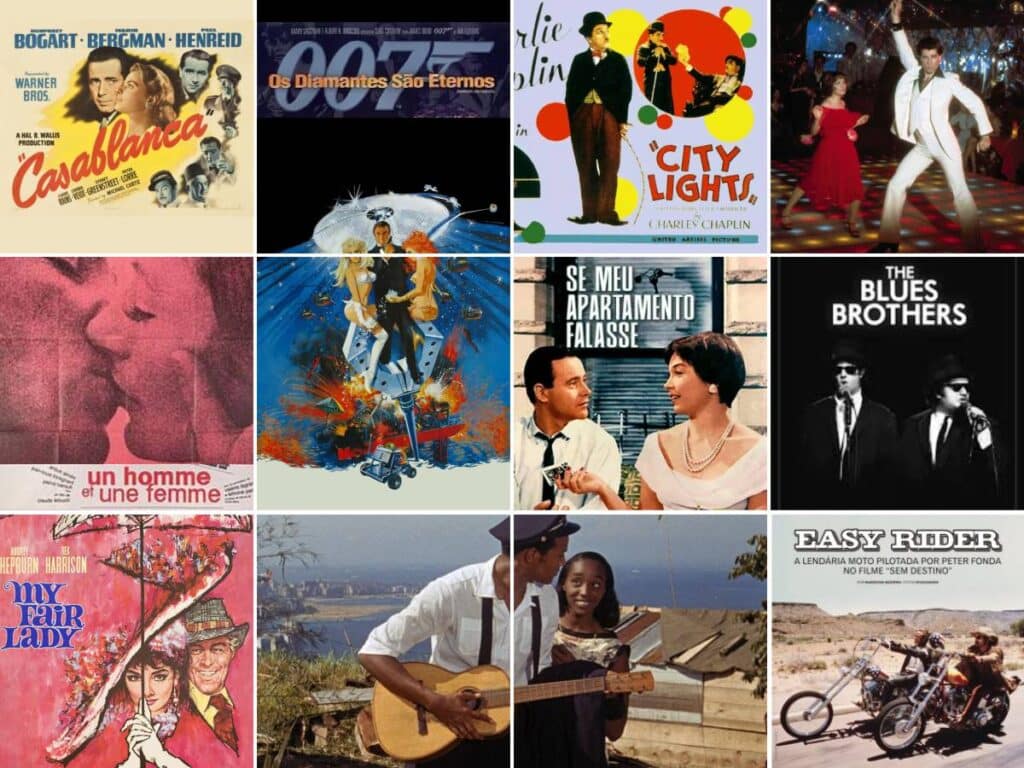Quando Zími ouviu Mila Cox bater à porta de seu quarto, pensou que fosse por causa das pilhas do controle remoto da televisão da sala.
Ele as havia trocado,colocando pilhas usadas no lugar.
Pecou miseravelmente e estava envergonhado.
As pilhas dele já tinham acabado e eram da mesma marca das pilhas usadas por ela na outra televisão, pois foram compradas na mesma ocasião.
Compraram poucas, mas ele compraria outras no dia seguinte.
Antes de dividirem o apartamento, Zími nunca tinha tido à disposição tantos canais de documentários para assistir sozinho, numa tela grande.
Isso deixava sua parceira musical intrigada, pois antes eram apenas os livros que o deixavam ausente por horas, como se ela estivesse sozinha em casa e ele fosse uma planta em outro cômodo.
Ela gostava disso, mas era uma condição inédita em sua vida.
Cox vivia antes numa casa de classe média na Penha, com a mãe e a avó, que consideravam o novo apartamento um muquifo.
Mas para ela era ideal. E para Zími era como um hotel de luxo.
Ela não reclamou das pilhas.
Na verdade, Mila Cox estava aflita naquele momento por conta de um e-mail que recebeu de um cara que assistiu a um show dos Crop Circles numa festa de aniversário em Santana do Parnaíba, no fim de semana anterior.
Ela estava ali bebendo café numa caneca de chope e usava uma camiseta rosa, furada, do Black Flag.
No dia desse show, aconteceu a estreia do amigo Silvano tocando ao vivo, que ensaiou seu repertório em menos de uma semana, em seu apartamento, vizinho de andar de Zími e Cox, isolado acusticamente com caixas de ovos nas paredes.
No tal e-mail, o sujeito fez elogios à apresentação de Silvano e dos Crop CIrcles, acrescentando que nunca tinha ouvido falar deles, e que instantaneamente os viu como uma ‘pérola da obscuridade’.
Disse também nunca ter visto de perto, ao vivo, algo tão ‘cool’.
Mila Cox sabia que Zími estaria satisfeito se passasse o resto da vida no underground, com trabalhos paralelos à música, para pagar as contas.
Ele prezava ir ao mercado e sair de bicicleta sem ser abordado a todo momento.
Sabia também que continuar no underground era, na concepção dele, continuar sendo ‘cool’.
Ele sabia que ela queria as duas coisas.
Ter algumas vantagens do mainstream, mas sob uma aura underground.
Zími dizia que uma vida brasileira normal, com preocupações financeiras, políticos escrotos, fanáticos religiosos e a repulsa que a maior parte da população tem pelo rock, e especialmente pelo rock alternativo, dão legitimidade ao trabalho.
Em tempos de internet, uma eventual repercussão no exterior se torna mais possível agora do que quando ele tinha a idade dela.
Zími tinha quarenta e seis anos, e Mila Cox, dezenove. Além disso, ele gostava de se expressar através da música, sem pitacos de gente que não é do ramo.
Queria poder até mesmo errar de forma livre, e depois fazer de novo da maneira correta.
Pediu que ela, no contexto do e-mail, pensasse apenas nas palavras ‘pérola’ e ‘cool’, ignorando a palavra ‘obscuridade’, caso se incomodasse com ela.
A Zimi, isso não incomodava.
Damo Suzuki era obscuro ao grande público e era uma das principais referências artísticas para ele, que também nunca escondeu seu desprezo por tudo que é mainstream no Brasil.
Segundo Zími, toda sua contribuição para a banda, formada apenas por ele na bateria e vocal, e Mila Cox no baixo, vocal e sintetizadores, sem um guitarrista, é tirada do que ele via no dia a dia, admirando ou repudiando o que estava lá, e muitas vezes se favorecendo de seu anonimato.
Cox sabia, no entanto, que ele adoraria se ganhasse dinheiro suficiente para que não tivesse que fazer mais nada que não quisesse.
Com o dinheiro, ele poderia perder o interesse pela música, pagaria as contas no débito automático e ficaria em casa fumando maconha e vendo documentários enquanto estivesse acordado.
E ele estaria tão pleno, etéreo e abstrato, que ela jamais ousaria incomodá-lo, sabendo principalmente que ele diria, de imediato, que estava com os boletos pagos. E a sua tendência de se tornar recluso e misterioso se acentuaria.
Sem contar que não era segredo que Zími preparava um livro havia um bom tempo, e dizia que ainda não havia ficado pronto por causa dos compromissos musicais, sendo essa a vertente cultural a que daria prioridade.
Mas dizia que o livro ficaria pronto a tempo do lançamento futuro de um box da banda, com todo o material gravado, para atender aos desejos megalomaníacos de Mila Cox.
Ele desconversava quando o assunto era ter mais dinheiro do que ele jamais teve, porque não contava com essa sorte, e não queria gastar seu tempo de sonhar com algo que considerava ilusório.
Enquanto não escondia sua vontade de se tornar relevante para um público maior, principalmente fora do país, Mila Cox alegava que não podia entrar nos sonhos dele para saber se ele dizia a verdade., em relação ao que ela chamava de conformismo.
A isso, Zími chamava de aproveitar a recompensa pelos esforços do passado, e não contava com essa recompensa enquanto não considerar ter feito tudo que podia.
Ele disse que a arte tem que ser produzida de forma independente porque ela jamais vai se sobrepor aos valores do mercado, que poderia estar vendendo o que fosse, desde que gerasse lucros.
Então, sempre que as conversas entre eles sobre esse assunto chegavam a essa parte das diferenças que tinham entre si, Zími dizia que para ele nunca houve zona de conforto em nenhum setor da vida, em nenhum período, e a arte, antes de uma fonte de renda, deveria ter um propósito em si mesma, antes que pudesse ser vendida como o produto arte.
Insistia também sobre o fato do amanhã ser um bônus. Tudo o que tinham de fato, era tempo, sem saber quanto.
Ele lembrou que enquanto Silvano fazia seu primeiro show no último fim de semana abrindo para os Crop Circles, eles já estavam no show de número duzentos e trinta e nove, além de trinta e quatro singles e duas coletâneas.
Silvano nem mesmo havia terminado seu disco no dia de sua estréia.
Tinha gravado um esboço tosco com as dez músicas que entrariam no disco, e se apresentou tocando guitarra sentado, também tocando bumbo e caixa acionados por pedais. Zími usava o mesmo kit,acrescentando apenas um chimbal.
A guitarra era uma imitação de Rickenbacker, comprada na semana anterior, e seu amplificador era um cubo preto sem marca aparente.
Deixou para lançar o disco no show seguinte, que ainda não havia sido marcado, e seria gravado com a produção de Zími.
Silvano queria ver a reação do público e também a sua própria diante dele, perder a virgindade de tocar ao vivo e só então disponibilizar o álbum na internet.
No caminho de ida, ouviram duas vezes seguidas o álbum ‘Enemy of the enemy’, do Asian Dub Fundation, colocado por Silvano, que dirigiu em um silêncio nunca visto antes em dias de show.
Zími e Mila Cox não sabiam se ele estava muito nervoso ou se estava apenas concentrado para seu show. Era um sítio grande, e havia ali, entre muitos carros, uma Veraneio 73 de colecionador, que fez com que Silvano parasse para olhar por vários minutos, sem soltar o case de sua guitarra, nem o amplificador, que levava com a outra mão.
Mila Cox tirou a foto e postou no dia seguinte nas redes sociais da banda.
A garota que fazia aniversário em Santana do Parnaíba era filha do dono do sítio, e havia ouvido falar deles por conta da repercussão de um show em Tanabi, semanas antes. Alguém que esteve presente os recomendou para que tocassem na festa.
A providencial aparição do uruguaio Silvano em suas vidas fez com que eles mudassem de patamar em termos de estrutura, e mais do que nunca seria preciso, de acordo com Zími falando para Mila Cox, ter paciência para que a popularidade deles também alcançasse um nível superior, como ela desejava.
Agora que viajavam na Kombi de Silvano, Zími deixou de se queixar das noites seguintes aos shows, com eles dormindo no Chevette Jeans 79 de Cox.
Dormir na Kombi era bem mais fácil e o veículo era muito mais apropriado para aquele tipo de rolê.
A estreia ao vivo de Silvano correu bem, durou trinta e cinco minutos e gerou curiosidade das cerca de trezentas pessoas presentes e conseguiu arrancar aplausos. Antes do show estava tenso, mas se controlou na bebida, deixando para beber depois da apresentação.
Era uma monobanda, algo ainda mais minimalista que o duo que tocaria em seguida.
O som era uma mistura convincente de blues e punk rock.
Ninguém ali diria que era o primeiro show daquele sujeito.
De maneira nenhuma Silvano era alguém que projetava sua autoestima na própria aparência, mas ele tinha um tênis Pony de cano alto, uma calça preta de moletom e um colete jeans, que foram o suficiente para que as pessoas saíssem da frente quando ele passava.
Parecia um Pappo Napolitano brasiguaio.
Ele assistiu ao show dos Crop Circles na lateral do palco, sem camisa e enrolado numa toalha, com uma caneca em que bebia alguma das cachaças artesanais que, como sempre, haviam sido compradas com antecedência num alambique local.
Bastava que Mila Cox anunciasse um show fora da cidade de São Paulo, para que ele pesquisasse onde compraria as bebidas, e logo entrasse em contato com o fornecedor.
Ela havia colocado o Chevette à venda, para comprar um amplificador Orange para seu baixo.
Zími mencionou também esse fato para lembrar a ela que estavam evoluindo, e o tempo que os separava de uma eventual fama maior, deveria ser aproveitado para tentarem entender o que seria ter problemas que não fossem financeiros.
Mila Cox respondeu dizendo que problemas financeiros infelizmente são, no mundo tosco em que viviam, a causa de muitas outras aflições.
Zími concordou e pediu a ela novamente que tivesse paciência, salientando que se ela conseguir logo viver apenas de música, isso pode se tornar tão ou mais exaustivo do que ter trabalhos paralelos para sustentar a banda.
Os trabalhos que eles pegavam como copywriters podiam ser chatos às vezes, mas eram previsíveis, toleráveis e pagavam o suficiente para que eles existissem como pessoas e artistas.
Ao bater na porta de Zími, Mila Cox interrompeu um pensamento sobre como a maturidade não vem com a idade, e agradecia pelo fato de Mila Cox compensar essa sua defasagem.
A isso, eles chamavam mutualismo não simbiótico.