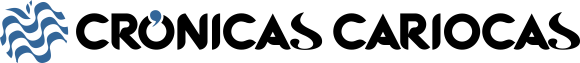Um leão na beira da estrada
Vi-o de longe e identifiquei o leão parado na beira da estrada. A juba grisalha e rebelde não podia ser de outra pessoa. Era ele no acostamento, apoiado em seu carro com o capô levantado. Tinha nas mãos um galão de plástico vazio e parecia aguardar uma carona. Eu passei de moto, capacete posto, só os olhos à mostra. Meu pai não me reconheceu.
— Sem gasolina?”, perguntei.
— Sim, que azar!, ele respondeu.
— Sobe — indiquei com a cabeça o assento traseiro — Eu levo o senhor, tem um posto logo ali na frente.
Meu pai ajeitou-se na moto, agarrou minha cintura com uma das mãos e, com a outra, segurou a alça do galão. Arranquei. Fazia mais de dez anos que não nos víamos ou nos falávamos. A última vez que trocamos um abraço foi no enterro de minha mãe. Depois, sem que tivesse acontecido nada relevante, fomos espaçando os telefonemas e os encontros, até que deixamos de nos comunicar. Filho único de um pai quase ausente, desisti de procurá-lo. Ele, pouco afeito a carinhos e movido por outros interesses, esqueceu-se de mim. Tudo muito natural, sem brigas ou discussões, só indiferença.
Não tirei o capacete em nenhum momento. Não sabia qual seria sua reação ao me reconhecer. Melhor que pensasse que eu era apenas um rapaz que lhe prestava um favor na estrada. Percebi pelo espelho retrovisor como ele abaixava a cabeça para se proteger do vento, a juba dançando livremente sobre sua cabeça. O rosto de meu pai estava envelhecido, mas seu corpanzil — forte, vigoroso, saudável — mostrava outra realidade. Vi quando ele olhou para as minhas botas e percebeu que o salto do pé direito era mais alto do que o do esquerdo. Algumas vezes no passado, quando eu já era adolescente, meu pai me falara, num de seus rompantes de sinceridade, do desgosto que sentiu quando o médico, ainda na maternidade, contou sobre o meu defeito de nascença: uma perna mais curta do que a outra. Isso nunca me incomodou além das chacotas dos meninos do colégio, mas ele e minha mãe se sentiam envergonhados — talvez culpados — por esses centímetros a menos, ou a mais, segundo o ponto de vista de quem me olhava. Jamais consegui descobrir qual das minhas pernas era a defeituosa, se a mais curta ou a outra.
Dirigi com habilidade e cautela, não me aproximando demais dos carros que iam à nossa frente. Notei que meu pai, em que pese o pudor de estar em contato físico tão próximo com outro homem, agarrava-se com firmeza à minha cintura com uma das mãos. Seus olhos não saíam do meu pé direito. Não conversamos durante o trajeto. Quem sabe ele não estava se perguntando se eu não poderia ser seu filho? Talvez estivesse se lembrando da série de médicos a que me levou quando eu era pequeno, as intermináveis radiografias, a sucessão de opiniões sobre a provável causa do meu defeito físico, até a sugestão feita por um especialista, afinal adotada, de colocar um salto maior que o outro nos meus sapatos, de maneira a compensar a diferença de comprimento entre as minhas duas pernas. Ou então estava revivendo o olhar de decepção que me dirigia quando me observava coxeando pelo chão da sala, eu menino, ainda ignorante do preconceito que sofreria vida afora.
Ao parar no sinal vermelho, já perto do posto de gasolina, senti sua mão pressionando minha barriga, como uma demonstração de afeto. Não esbocei reação. Estacionei a moto ao lado de uma das bombas do posto, e ele desceu do assento traseiro. Falei, sem tirar o capacete e sem olhar em seu rosto, que não poderia levá-lo de volta, estava atrasado para um compromisso. Ele respondeu que encontraria sem dificuldade outra carona para voltar até seu carro. Percebi que tentava ver meus olhos e meu rosto pela viseira do capacete.
— Muito obrigado, moço, você me fez um grande favor — disse meu pai, seus olhos insistentes na busca dos meus.
— Não tem de quê — respondi e fui embora.
À noite, já em casa, meu telefone tocou várias vezes.